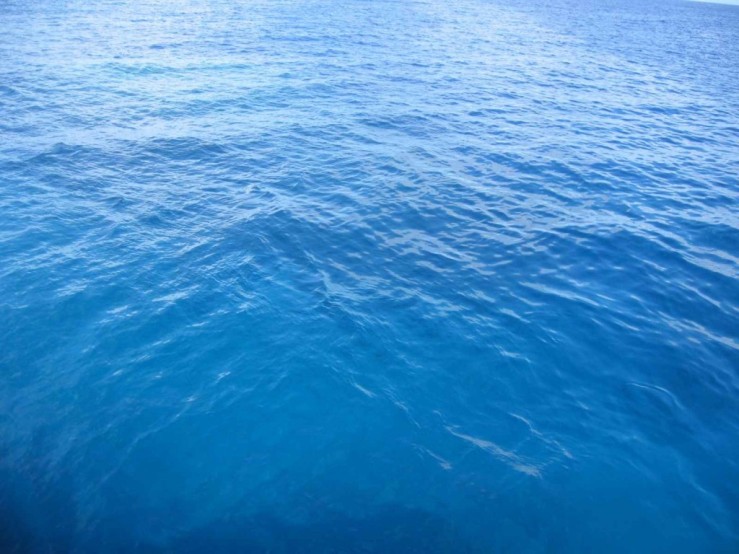A 21 de Março de 1992 escrevi, no Expresso, esta cronologia para acompanhar a estreia de três gangsters movies. Houve uma coisa que, na altura, me impressionou: em todos os filmes – The Mobsters, Billy Bathgate e Bugsy – os gangsters primavam pela elegância. Vestiam-se bem e uns tipos que se vestem bem merecem, acho eu, algum crédito. Olhem, merecem que se lhes faça a folha, que foi exactamente o que eu lhes fiz.
E hoje, a continuarmos a cronologia, a quem teríamos de fazer a folha?
Os dias dos gangs
Manuel S. Fonseca
1920
A 17 de Janeiro, a Constituição americana declara ilegal o consumo ou o fabrico de bebidas alcoólicas. Os bandos criminosos, que detinham já o controlo do jogo ilegal e da prostituição, chamaram ao decreto música para os seus finos ouvidos. Estavam garantidos anos de vacas gordas. A aura do gangster, com estilo de vida faustoso, pairando com displicência acima da Lei, ia atingir extremos nunca sonhados. De Roaring Twenties, de Raoul Walsh, a Some Like it Hot, de Billy Wilder, o tema da Proibição constitui-se também como um maná cinematográfico, susceptível de um leque variado de tratamento, da tragédia à comédia.
1921
Johnny Torrio, patrão do maior bando de Chicago, contrata um pistoleiro de Nova Iorque. Duas cicatrizes paralelas, na cara, justificam a alcunha: «Scarface». De seu nome Al Capone, este homem nascera em Castel Amaro, perto de Roma, em 1895. Quatro anos depois de chegar a Chicago, já era o patrão do crime organizado na cidade, controlando também o tráfico ilegal de bebidas alcoólicas em todo o país. «Sou um benfeitor público», respondia ele à polícia que o elegeu como Inimigo Público nº 1. Revelou sempre total consciência da sua imagem pública, afirmando mesmo que fora consultado sobre o guião final de Scarface (32), de Howard Hawks, cuja personagem principal, interpretada por Paul Muni, se baseia na sua vida. Little Caesar (30), de Mervyn LeRoy, é outro dos grandes filmes de gangsters, em que o protagonista, incarnado por Edward G. Robinson, foi modelado em parte na sua biografia. Al Capone (59), de Richard Wilson, permitiu a Rod Steiger uma convincente interpretação da figura lendária desse gangster que morreu em casa, na cama, após oito anos de doença contraída em outros tantos anos passados na prisão, cumprindo pena aplicada por evasão fiscal. Outros Capone foram Neville Brand, Barry Sullivan, Jason Robards e Robert De Niro, respectivamente em The Scarface Mob (58), de Phil Karlson, The Gangster (47), de Gordon Wiles The St. Valentine’s Day Massacre (68), de Roger Corman e The Untouchables (87), de Brian De Palma.
1926
Hymie Weiss, o patrão dos «gangs» do Norte de Chicago, é abatido numa florista, em operação concebida por Al Capone. A personalidade de Weiss, um tipo de grande coragem física e dado a fúrias repentinas, serviu a William Wellman para esboçar a personagem principal de Public Enemy (31), interpretada por James Cagney.
1930
Estreia de Street of Chance, de John Cromwell, inspirado na vida e nos feitos de Amold Rothstein, um dos grandes patrões do crime organizado de Nova Iorque. Rothstein foi assassinado em 28. O cinema voltaria a tratá-lo em The Big Bankroll (59) e em King of the Roaring Twenties.
1934
Na noite de 22 de Julho, à saída do cinema Biograph, na Avenida Lincoln, de Chicago, John Dillinger foi abatido pelo FBI. Tinha acabado de ver Manhattan Melodrama, um filme de Woody van Dyke. A sua namorada, a famosa «lady in red» (que um filme como este título ficcionaria em 79), traíra-o, e Marvin Purvis, um obstinado detective do FBI, montara-lhe a armadilha fatal. No ano anterior, Dillinger roubara mais de 250 mil dólares. Meses antes da sua morte conseguira evadir-se da prisão de alta segurança, em Crown Point, utilizando os miolos (reputadamente excelentes) e uma pistola falsa. O Código Hays proibiu qualquer filme sobre Dillinger, tão forte era a sua aura mítica. Há, todavia, alusões breves em Public Hero no 1 (35). Mais próximo dos factos estava High Sierra (41), de Raoul Walsh, cujo herói, interpretado por Humphrey Bogart, se inspirava em Dillinger. Em 45, o recuo histórico autorizou já a saída de um filme-B intitulado Dillinger e, em 64, Young Dillinger retoma a biografia do gangster. Mas foi John Millius, com o seu Dillinger (73), e com a preciosa ajuda do actor Warren Oates, quem melhor lhe traçou a biografia. Outros Dillinger apareceram em filmes como The FBI Story (59), de Mervyn LeRoy, e Baby Face Nelson (57), de Don Siegel.
1935
História de amor com gangsters? Houve pelo menos uma paixão de arromba, a que «Big Jim» Colosimo, um gangster de Chicago, teve por Dale Winter, uma cantora (de dia na igreja, à noite no cabaret de Colosimo) com aspirações a diva de ópera. A paixão acabou em casamento. O enlace foi visto no «bas-fond» como um sinal de fraqueza de Colosimo, sinal reforçado pelas tentativas de «Big Jim» se tomar respeitável. Foi assassinado. Love Me Forever, de Victor Schertzinger, adaptou ao cinema essa história.
1939
Abe Reles, confessa ter levado a cabo vários assassínios, encomendados para um grupo ao serviço dos grandes gangs. O grupo passou a ser conhecido na América por «Murder Incorporated». Seguindo as indicações de Reles, o FBI descobre numa vala 56 corpos, mas Reles afiança ter «despachado» mais de 130. The Enforcer (51), com Bogart, e Murder Inc. (61), com Stuart Whitman, ficcionam a existência desse «serviço».
1942
O gangster Albert Dekker é convidado para vedeta de Yokel Boy, um filme sobre a sua própria vida.
1943
Depois do rapto, por um «gang», do filho do aviador Charles Lindbergh, que acabaria por ser assassinado, o Congresso deu carta branca a J. Edgar Hoover, o patrão do FBI, para um ataque ao crime organizado. Em poucos meses, Hoover eliminou grande parte das estruturas dos «gangs». O código Hays, em Hollywood, interditou também, nessa altura, os filmes sobre Dillinger ou outros bandidos, o que retirou publicidade e brilho à lenda desses gangsters.
1947
Em The Gangster, Gordon Wiles chama pela primeira vez «syndicate» à organização que reunia estrategicamente a Mafia italiana e judia de Nova Iorque. Era do domínio público que esse comité integrava criminosos como Joe Adonis, Willy e Solly Moretti, Albert Anastasia e Anthony «Tony Bender» Strollo. Os seus encontros tinham lugar no Duke’s Restaurant, junto a Palisades Park.
1952
O Governo americano reconhece a existência do «sindicato do crime», num relatório do Senador Estes Kefauver.
1957
Don Siegel serve-se de Mickey Rooney para fazer um retrato de adolescente retardado ao gangster Baby Face Nelson, no filme homónimo. Em 73, no Dillinger, de John Millius, a subida honra de fazer o papel desse gangster paranóico coube a Richard Dreyfuss.
1958
Roger Corman dá um pontapé nos factos e diverte as plateias dos «drive-in» com a biografia de «Machine Gun» Kelly, na comédia negra com o mesmo nome.
1959
Pretty Boy Floyd, realizado por Herbert J. Leder, é uma desinspirada versão da vida de Charles «Pretty Boy» Floyd, gangster que as canções de Woody Guthrie fizeram passar por um lavrador do Oklahoma forçado a entregar-se ao crime pela brutalidade da polícia. Floyd foi companheiro de Dillinger e de «Machine Gun» Kelly, surgindo, por isso, como personagem dos filmes que são dedicados a estes criminosos.
1961
Vic Morrow surge no papel de Dutch Schultz em Portrait of a Mobster, de Joseph Pevney. Segunda figura desse filme era outro gangster, Legs Diamond, interpretado por Ray Danton, o mesmo actor que fora já Legs no filme biográfico The Rise and Fall of Legs Diamond, dirigido por Budd Boetticher, e no qual Dutch Schultz era, por sua vez, segunda figura. Em Mad Dog Coll (61) e no Cotton Club (84), de Coppola, a personagem de Dutch Schultz volta a aparecer.
1967
The St. Valentine’s Day Massacre, de Roger Corman, aborda um episódio crucial da guerra entre os bandos de Chicago, que terminaria com a vitória total de Capone. Numa manhã do Inverno de 29, seis homens do bando de «Bugs» Moran, que dominava o lado Norte da cidade, foram abatidos a sangue-frio, contra a parede de uma garagem, por assassinos disfarçados de polícias e mandados por Capone. O «clássico» de Corman concentra-se no episódio, mas antes já outros filmes tinham utilizado essa famosa cena, a começar no Scarface, de Howard Hawks, até à citação cómica no Some Like it Hot, de Billy Wilder.
1968
Bonnie & Clyde, de Arthur Penn, propõe uma versão sublime da vida e tempo do famoso casal de gangsters. Clyde Barrow nasceu no Texas, em 1910, tendo descoberto bem antes dos vinte anos a sua vocação de criminoso. Os vizinhos contavam que, rapazinho ainda, Clyde fora apanhado a torturar animais, género partir uma asa a um pássaro e desatar a rir. Ou seja, a sua imagem real, sádico de personalidade e intelectualmente embrutecido, não corresponde minimamente à lenda cinematográfica que Fritz Lang, em You Only Live Once (37), evocou, através de personagem de ficção com um percurso semelhante, apresentado, juntamente com uma figura aparentada a Bonnie, como paradigma do par rebelde, cercado por um ambiente social hostil. A mesma lenda persiste em Gun Crazy (49), de Joseph Lewis. The Bonnie Parker Story (58), de William Witney, é, como o título indica, uma biografia directa, reportando-se mais objectivamente aos factos.
1969
Roger Corman retrata, em Bloody Mama, o gang constituído por «Ma» Barker (numa notável interpretação de Shelley Winters) e pelos seus quatro filhos. O bando tornou-se famoso nos anos 20, com assaltos a bancos em zonas rurais. A primeira baixa, ocorreu em 1927, com o suicídio (ou morte por ferimentos em assalto) de Herman. Arthur, outro dos filhos foi condenado a prisão prepétua, em 1928; LIoyd, o terceiro irmão, apanhou 25 anos de cadeia, por essa altura, Fred, o quarto irmão, reorganizou o bando com a mãe, o amante dela e o pistoleiro «Creppy» Karpis. Na sequência do rapto de um banqueiro, a polícia federal cercou-os e abateu-os, após quatro horas de tiroteio, numa casa de férias, em Lake Weir, Florida. Queen of the Mob (40), Guns Don’t Argue (55) e Ma Barker’s Killer Brod (60), já tinham biografado «Ma» Barker.
1972
É o ano de The Godfather, de Francis Coppola. A figura de Vito Corleone, interpretada por Marlon Brando, não corresponde a nenhuma personagem real específica. Diz-se ser uma amálgama de vários patrões da Mafia. Todavia, há uma figura histórica, a do chefe mafioso Carlo Gambino, um dos grandes gangsters do pós-guerra, que terá emprestado os traços biográficos essenciais ao protagonista do filme.
1973
Francesco Rosi conta, em Lucky Luciano, a «vida e obra» desse gangster, quase tão famoso como Capone. Gian Maria Volontè foi o intérprete. Antes, em 64, Cesar Romero fora o primeiro «Lucky» Luciano do cinema. Outro célebre intérprete, antes da recente vaga de filmes de gangsters destes anos 90, foi Joe Dalessandro, em The Cotton Club (84), de Francis Coppola. Luciano, à boa maneira de Capone, também não se foi desta para melhor de morte macaca: morreu velho, na cama, de ataque de coração.
1983
Scarface, de Brian De Palma, retoma a figura de Tony Camonte, a personagem de ficção com que Hawks, no filme original, disfarçara a biografia de Capone. AI Pacino deu corpo à figura do gangster. O filme reavivou o interesse pelo «gangster film» na indústria americana.
1984
The Cotton Club, de Francis Coppola, é uma festa de gangsters autênticos. Um dos mais comoventes retratos é o de Owney Madden (interpretado por Bob Hoskins), o dono do clube onde se reúnem figuras como Lucky Luciano e Dutch Schultz. Madden, apesar das cores simpáticas com que Coppola o pinta, aos 17 anos era já conhecido por «Owney the Killer».
1992
Estreiam sucessivamente Mobsters, Billy Bathgate e Bugsy. São os gangsters vistos pelos anos 90: Lucky Luciano, Bugsy Siegel e Meyer Lansky surgem em edições de luxo, servidas por excepcionais fotografias e sofisticado «production design». Dustin Hoffman, Ben Kingsley, Christian Slater e Warren Beatty dão-lhes corpo e não se pode dizer que sejam, como actores, uns «nobodies». À violência, apresentada em versão «hard» — violência gráfica, como dizem os críticos americanos — soma-se a pulsão libidinosa. O que estava implícito em Bonnie & Clyde deixou, agora, de ser um tema subjacente. O sexo vai de ombro a ombro com a pistola.