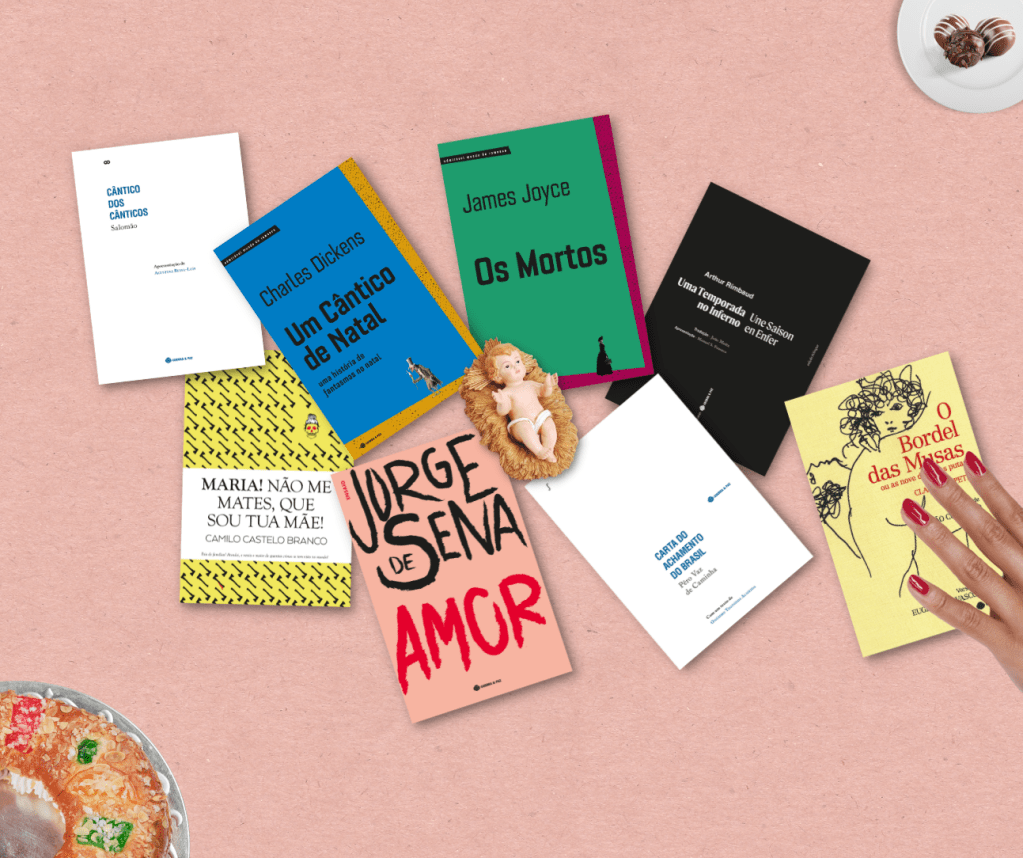O estudo é alemão. Debruça-se, com olhar entomológico, sobre o órgão sexual masculino, comumente chamado pénis. Bem sei que parece um tema bizarro, assim posto no microscópio, a meio das celebrações natalícias, mas já lá vamos. As festas natalícias apelam à felicidade e, mesmo se o pénis não é exactamente um pinheirinho de Natal, o certo é que os mais remotos antepassados desta nossa ocidentalíssima cultura o prezavam como símbolo ao qual a felicidade não era alheia.
Gregos e romanos, esses delirantes pagãos a que devemos, da “Ilíada” ao “Satyricon”, a nossa arte de viver e amar, tinham o culto do falo. Basta olhar para Príapo, deus nascido dos amores de Afrodite e Dionisio, sobre o qual a ciumenta Hera lançou maldições: e eis que Príapo nasce com um falo de alto lá, meus senhores!, do tamanho da Torre Eiffel. Pior: escandalosamente erecto. O falo era então visto não só como um símbolo de prosperidade, mas também como um rijo repelente para o mau olhado. Em Atenas, faziam-se procissões em que os cidadãos livres da nossa original democracia carregavam às costas grandes falos, que os mestres carpinteiros tinham talhado a partir do tronco de árvores. Longe de mim pensar em forçar os militantes dos nossos partidos democráticos a arcar às costas com tal engenho e arte, mas acrescento que, tal como Lisboa preza a sua procissão do Corpo de Deus ou da Senhora da Saúde, as aldeias à volta de Atenas não escondiam a alegria de participar nessas priapescas romarias: escolhiam os seus melhores artesãos para esculpirem os mais belos falos causando o espanto dos atenienses.
Dir-me-ão que esta fealdade e até obscenidade está a milhas da beleza mais recolhida e intimista do Natal. Claro que sim! E, não obstante, não oculto que em Pompeia os falos, pendurados à soleira das portas, como vade retro ao infortúnio, eram dotados de asinhas e de sininhos. São estes os originais tintinábulos, que não fosse cá por coisas poderiam ser um enfeite natalício.
E por falar em recolhimento, veja-se que o falo é bem capaz de se acomodar ao melhor ideal estético. Se o hiperbolismo do falo de Príapo nos repugna, toda a libérrima estatuária greco-romana, que celebrou o nu masculino, do atleta ao filósofo, reduz o falo a uma humilde dimensão. Essa redução contém uma mensagem pedagógica e sábia: o pequeno falo em forma de repolhinho (que Miguel Ângelo, na Renascença ressuscitaria) quer ser a metáfora de um ideal de moderação. Por isso, os grandes heróis eram retratados com recolhidos falozinhos (se assim posso dizer), prova de que sabiam dominar as emoções e os mais obscuros desejos, ao contrário da espampanante erecção de Príapo. Parece-me deletério interrogarmo-nos sobre como é que esses anónimos artistas esculpiriam hoje um Montenegro ou um Nuno Santos. Adiante.
Tudo isto para vos dar o resultado do estudo que os hospitais alemães fizeram e teve como base 3500 casos de fractura do belo falo que a estatuária grega celebrou. A fractura, que consiste na ruptura dos corpos cavernosos durante a coisinha mágica que é a erecção, ocorre na Alemanha – e é provável que em todo o Ocidente – sobretudo no Natal. E depois na celebração do Novo Ano. É certo que ali no Solstício de Verão, quando as férias começam, há também números preocupantes, mas são as festividades natalícias, essa animação de rabanadas, filhoses, muita touriga nacional, a principal causa desse crack, seguido de hematoma, que logo interrompe o justificado júbilo masculino. Cuidado com os sininhos natalícios, dizem os médicos alemães.
Publicado no Jornal de Negócios