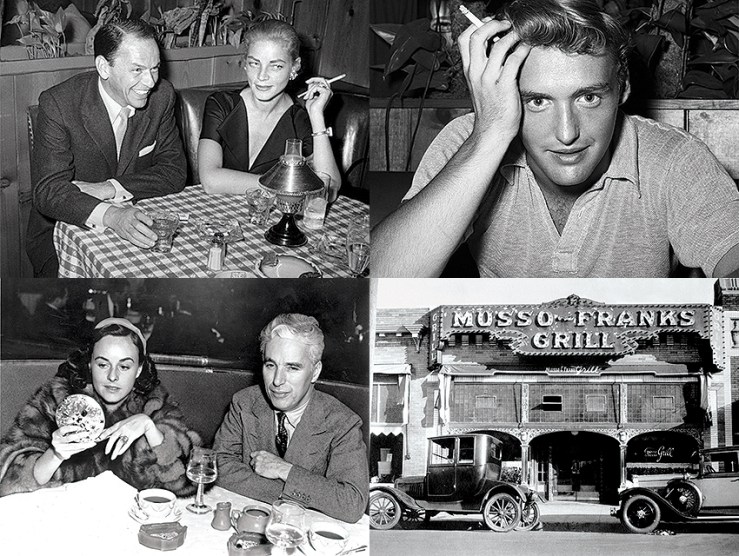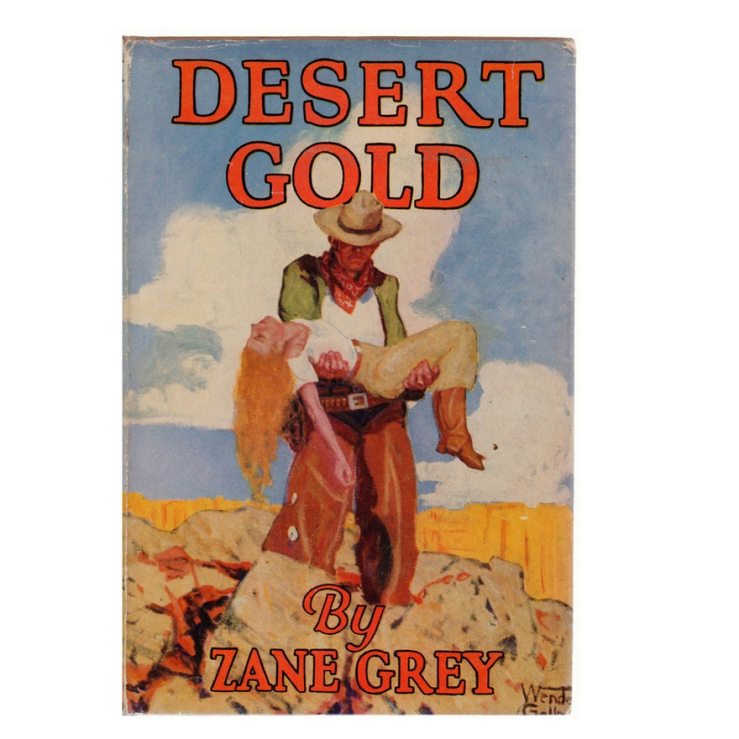Fui convidado para o evento O Fascínio das Histórias, organizado pela Fundação Gulbenkian. Pediram-me uma intervenção de uma hora e meia. Aqui fica, dividida em 3 partes, como o mafiosíssimo filme de Francis Coppola, não por acaso também citado. É, como não podia deixar de ser, um texto marcado pela oralidade, aviso já.

Histórias que os filmes não confirmam nem desmentem, antes pelo contrário
Dedicatória
Dedico esta apresentação ao Bando de Tróia.
Juntámo-nos no Festival de Tróia, nos anos 80 e, depois, jantamos juntos durante duas décadas. Estão hoje, aqui, comigo, a Antónia Fonseca, quadro da Cinemateca, e o António Gutierres Setúbal, dos melhores cirurgiões do mundo, especialista em endometríose.
Com uma saudade imensa, lá vai para o céu um abraço ao Pedro Bandeira Freire, fundador dos cinemas Quarteto, que tanto fizeram pelo nosso imaginário.
À Dulce Cabrita, cantora de ópera, e ao escritor Dinis Machado, alegria dos nossos dias. A outro casal, a artista Gina Frazão e o escritor João Alfacinha da Silva. Ao meu amigo, irmão e sócio Manuel Cintra Ferreira, o mais cândidos dos cinéfilos. Ao cineasta e director de fotografia António Escudeiro. Aos talentosos e brilhantes cinéfilos que são o José Navarro e o António Mendes Lopes.
Estive aqui o ano passado, no evento “O Gosto dos Outros”. Gostei muito de ter feito parte de um evento tão luminoso, alegre e participado, que foi das duas da tarde e fugiu noite dentro. É ainda com mais gosto que volto, este ano, e até com um certo anseio outonal, a aninhar-me nos braços da Fundação Gulbenkian, entregando-me aos afagos do Nuno Artur Silva, procurando a doce almofada do peito benfiquista do senhor administrador Pedro Norton, e implorando o colo protector da Senhora Presidente Isabel Mota, desde já lhe pedindo desculpa pelo desaforo. Obrigado por acolherem o pequeno ser delicodoce e enjoativamente nostálgico que eu sou.
E obrigado a todos os presentes por se terem enganado na sala! Agora já não há remédio, está posto um cadeado na porta e daqui ninguém sai. A ver se, de disparate em disparate, não vos desiludo.
O meu obrigado à Inês Meneses pelo apoio moral que aqui me deu, e muito obrigado à Maria Cristina Barbosa, minha produtora que foi inexcedível.
O Nuno Artur Silva, que na óptica do Chega facilmente passaria por um cigano faquista, pôs-me um punhal ao peito. Ora, letrado como o Nuno é, o punhal que ele usou foi um punhal de Jorge Luís Borges, um punhal mítico, experimentado e viajado em labirintos. Chamou a esse punhal “histórias” e disse-me para eu descobrir as melhores que há nos filmes, se é que alguma história ambiciona ser a melhor, não lhe bastando o prazer de ser história.
Sonâmbulas como um punhal, que histórias é que estão em cada filme? Que histórias são essenciais para que os filmes que as acolhem sejam os filmes que são, mesmo sabendo-se que os filmes são o que são por serem mais do que as histórias que contam?
Vejamos, o Nuno, que na óptica do Bloco de Esquerda é uma Ariadne, pôs, na minha mão de Teseu, o fio que me obriga a mergulhar no labirinto em busca desse monstro a que os gregos emprestaram corpo de homem e cabeça de touro, erro que, séculos depois, Dante corrigiu atribuindo-lhe corpo de touro e cabeça de homem, chifruda embora, como deveria ser a cabeça de cada homem, pelo resguardo e imponência que isso oferece.
E vamos então entrar nos armadilhados mil ecrãs de Dédalo a ver se esfaqueamos o cinéfilo Minotauro. Se houvesse um Genesis do cinema, teria de começar assim: no princípio era o papel. Os filmes antes de serem imagens em movimento são frases escritas e escritas em folhas de papel. Nós, portugueses, chamamos a essa prévia e desengraçada peça de papel “argumento”, palavra que herdámos do latim e que, neste caso, foge ao seu habitual campo semântico, que é o de significar prova ou raciocínio de que se tira uma consequência.
Os americanos chamam-lhe script, termo que foram também desencantar ao latim, por obra e graça do old french. Ora, os novos franceses, ao papel que antecede o filme, chamam scènario, dando relevo ao palco, à encenação que já se adivinha na folha de papel.
Muito embora os americanos tenham escrito 90 % dos melhores scripts que se conhecem, os franceses têm toda a razão, uma vez que o scènario justifica e convoca esse desenfreado gosto pelo paradoxo que faz a graça, a fortuna, mas também a desgraça da França.
Um scènario só é transitoriamente script. Nada há de mais instável do que o script, que está para o filme como a tendida massa do padeiro está para o pão que sai do forno: o que antes era mole, informe e incomestível sai do forno tostado, codeúdo e saboroso.
O script é, portanto, flutuante, uma bóia, o realizador de cinema deita-se nele como numa cama de água. E vai daí, o realizador filma o script.
Ora, o que se faz a um script depois de se filmar? Eu digo-vos, deita-se fora. Porque a intriga, a história que está no papel, logo que filmada fica irrisória e anacrónica.
O enquadramento da câmara, a iluminação, a intensidade dos actores, por mais fiéis que sejam ao papel, já são outra coisa, muito ou completamente diferente desse papel original.
No princípio era o papel, mas Truffaut, que sabia do que estava a falar, avisou: “filma-se contra o script.” Ora, ele também dizia, valorizando a montagem, essa operação que dá a ordem definitiva às imagens, “monta-se contra as filmagens”, donde a famosa frase “montage mon beau souci”, “montagem minha bela obsessão”.
A frase saiu da boca de Godard, o mais irado Aquiles, que via em Hollywood uma Tróia que ele bem gostaria de ter conquistado e arrasado, começando por arrastar pelos cabelos o linear Heitor de Hollywood chamado Spielberg, destroçando-lhe o cadáver, se o tivesse apanhado à má fila. E já vão ver que Aquiles e Heitor não me entraram, aqui, pela porta dentro, por acaso.
Resumindo, eis o que é um filme: é a soma de duas oposições, “filmar contra o script, montar contra as filmagens.” A realização, o que os franceses chamam mise-en-scène, introduz ou acrescenta uma perturbadora ambiguidade à letra das histórias. E agora digam-me, que outra coisa faz a delícia do mundo que não seja a ambiguidade, e tanto faz que estejamos a falar da ambiguidade da devoção neo-flamenguista de Pedro Norton a Jorge Jesus, como da ambiguidade com que homens e mulheres se espreitam pelo canto do olho, ou ainda da ambiguidade que, por exemplo, como um estaladiço croque-monsieur, crepita todas as manhãs nas páginas homéricas do meu Correio da Manhã.
E cheguei onde quero, ao salto de fé do Correio da Manhã para Homero. Vamos então voltar ao princípio. O cinema é uma invenção grega. Digo isto, com o meu melhor ar de Mickey Rourke, e já sei que tenho o Matt Dillon aos gritos comigo. Lembram-se da explosão dele no Rumble Fish do Francis Ford Coppola? “Man, what the fuck did the Greeks have to do with anything?”
Desculpa Matt Dillon, mas têm. Têm. Homero inventou o cinema há 30 séculos, inventando as duas grandes formas narrativas que, mais às escondidas ou mais à descarada, estão presentes em centenas de grandes filmes.
Homero inventou essas duas irmãs gémeas, muito giras e muito cheias de curvas épicas, chamadas Ilíada e Odisseia. Vaidosas como são, não lhes bastava a orgia literária que provaram e gozaram em tantas camas: no primitivo rolo de pergaminho, nas monásticas páginas dos manuscritos, em refulgentes iluminuras, nos incunábulos guttenberguianos.
Não, as manas Ilíada e Odisseia tinham de aparecer no cinema. E hoje, está claro, um bocadinho envergonhadas e disfarçando-se com outros nomes, até aparecem na televisão e em streaming.
E aqui está o que tenho a dizer a Nuno Artur Silva, a quem o PCP facilmente acusaria de querer fazer de mim um stakhanovista das histórias na História do cinema. Nuno, as melhores histórias, as que subjazem ao filme, enquanto o filme ainda está a caminho de ser um filme, são a Ilíada e a Odisseia.
E tanto é assim que Jean-Luc Godard, numa forma de acumulação primitiva de capital estético, quando filmou Le Mépris, O Desprezo, adaptando o romance de Alberto Moravia, põs as personagens a arranjar dinheiro e a discutirem um script para filmar uma Odisseia, quando em boa verdade estava a filmar uma Ilíada. Para me desmentirem têm mesmo de voltar a ver o filme.
Mas não é esse o primeiro filme de que vos quero falar e mostrar. Trago como primeiro exemplo um filme de um género humilde e popular, um western, no caso Rio Bravo, realizado por um dos dez maiores génios do cinema, Howard Hawks.
Nesse filme tudo se passa numa aldeola perdida na Grécia! – perdão no Oeste. É um lugar fechado que um xerife defende contra os bandidos que querem devassar a aldeia. Um deles, um criminoso mais cabotino do que Billy the Kid, foi capturado pelo xerife, John Wayne, e jaz agora na cadeia local, refém, tão refém como refém estava Helena em Tróia, ainda que por mais doces razões.
E essa pequena Tróia sofre o cerco de um bando irado e criminoso. Em Rio Bravo, como em Tróia, vai ser à porta dessa miserável vilória que os heróis se vão bater para defender a lei da cidade. E os heróis são: um xerife que é uma espécie de Heitor, um amigo afogado em álcool, um velho coxo apaixonado pelo xerife, um jovem inexperiente.
Vejam como eles defendem e fazem da sua Tróia uma Tróia impenetrável.
Esta é a Tróia de Rio Bravo, uma Tróia muralhada a dinamite e a uma pontaria infalível por heróis bizarros e de baixa extracção. Defendem a lei, o bem comum, se quisermos, o princípio da democracia.
Mas há, como em todos os filmes de Hawks, a mulher. A mulher hawksiana é torrencial, indómita, heroína como heroínas foram uma Clitemnestra ou uma Antígona. E em Rio Bravo, a mulher hawksiana é Angie Dickinson de que logo vemos, se começarmos a olhar para ela de baixo para cima, as esplêndidas pernas protegidas por um seguro de um milhão de dólares no Lloyds Bank of London.
Além das pernas, Angie Dickinson tinha voz, ao contrário do silêncio feminino que impera na Ilíada. Na Ilíada, Briseida, a escrava amada de Aquiles, não tem voz, a não ser para chorar Pátroclo, e a voz de Andrómaca é a do lamento, implorando ao marido Heitor que não vá lutar com Aquiles.
Angie Dickinson tem outra voz e é nessa voz imparável, suavemente dominadora, que John Wayne busca e certamente encontra o consolo que Heitor nunca terá na Ilíada, porque Homero pode muito bem ter inventado o cinema, mas não foi na Ilíada que inventou o happy-end.
Só mais uma breve nota: Hawks gostou tanto de fazer esta sua Ilíada, que voltou às personagens do xerife, do alcoólico, do velho rezingão, da mulher, repetindo a mesma estrutura de cerco troiano em El Dorado e Rio Lobo.
O actor John Wayne foi o protagonista dos três filmes e durante a rodagem do último, Rio Lobo, numa cena, parou, intrigado, e perguntou a Hawks: “Mas, olha, não fizemos já este filme?” Ora, John Wayne ainda não tinha feito nenhuma destas Ilíadas com Hawks quando filmou The Searchers com o mítico poeta irlandês John Ford.
O nosso sôfrego e amargo gosto de histórias, a lenta raiva em que ardemos a cada insónia, a inquieta angústia que o primeiro raio de sol de cada dia acende em nós, é essa a matéria do sublime pesadelo que nos exalta e nos esmaga em The Searchers.
The Searchers, A Desaparecida é um filme de deambulação, de peregrinação, a mais perfeita das Odisseias que o cinema já filmou. Deixem-me mostrar-vos a cena de abertura do filme. Vamos ver, vindo do fundo do tempo, de um cósmico buraco negro, John Wayne chegar a casa. John Wayne regressa a uma Ítaca que não lhe pertence, a uma Penélope que não se lhe pode oferecer e que ele não pode desejar.
Que deserta Ítaca é esta, enquadrada entre aqueles dois altos penhascos de Monument Valley? Que maciça silhueta de cavaleiro é que provoca um tão luminoso sobressalto na bela mulher madura, de pele ainda tintada de desejo, que surge à porta da casa? Que tensão, que camuflada distância, congela os dois irmãos que, separados há anos, se apertam as mãos quase com vergonha?
Viram o beijo de John Wayne à testa da cunhada? Que envio lírico se solta desse beijo e embaraça aquela esposa e mãe, pondo nas nossas faces de espectadores o carmim do rubor? Que antigo romance adivinhamos no pudor desse beijo? Que Circe feiticeira? Que canto de sereia? Que Ulisses sem Penélope é este John Wayne, saco de desilusão montado a cavalo, de andar desengraçado, de corpo tão estranho à harmonia familiar? Que deus ou deusa da desgraça o soprou do fundo e dantesco horizonte, cavaleiro vindo dos mortos, para vir assombrar a plácida rotina dos vivos?
Nenhum argumento, nenhum script, nenhum scènario escreveu antes nenhuma destas histórias. Estas são histórias que estão além da história que o script oferece ao realizador. Quem as conta é a prodigiosa e poética realização de John Ford, quem as contas são os olhares, os gestos quase imperceptíveis, as inflexões de voz da personagem de Wayne, Ethan de seu nome, quem as conta são as hesitações e a tão bonita discrição do irmão e da cunhada, quem as conta é a ousada intrusão da música de Max Steiner.
É esse o milagre do cinema, do pantagruélico cinema que se alimenta do Homero de há 30 séculos. Tão moderno como Homero, John Ford deixa, em pinceladas rembrandtianas, a sugestão de um romance familiar tabu, deixa cair no rosto de John Wayne e da cunhada a gota de amarga saudade do raio de um desejo talvez nunca consumado; John Ford deixa-nos, enfim, adivinhar o escuro ressentimento de quem, como Ethan, nunca provou a lenta pasmaceira da felicidade doméstica.
Não é para essa felicidade que John Wayne, Ethan, está guardado. Ele traz nos alforges os mesmos ventos que um dos deuses deu a Ulisses. E os ventos vão soltar-se e devastar esta perfeita família que aqui vimos, vão devorar esta mulher que vemos entrar em casa de costas, recuando, para não deixar de olhar para John Wayne, numa coreografia tão bailarina, que até dói no nosso manso coração de espectadores.
Os índios, os terríveis comanches, hão de vir a seguir, numa via dolorosa de destruição e morte. Só sobrevive Debbie, que os índios raptam. John Wayne, Ethan, o Ulisses mais carregado de ódio que a história da ficção já viu, John Wayne, essa funda mina de negrume, sem ouro nem lítio, irá, de ilha em ilha, de deserto em deserto, em busca da sobrinha Debbie, para repetir o gesto que há pouco vimos: Ethan a agarrar na pequena Debbie e a levantá-la no ar com quem segura nas mãos, contra o céu, a inocência, a essência da inocência.
Chamei a esse prodigioso movimento, gesto – qual gesto, é mas é um verso, o primeiro verso, verso suspenso à espera da rima que o feche e feche em redenção um longo poema de raiva, som e fúria. E é este, depois de obtida a redenção, o fecho de A Desaparecida.
A porta que tínhamos visto abrir-se para que este filme começasse e pela abertura dela percebêssemos ao longe a silhueta fantasma de cavalo e cavaleiro, esse Ulisses fordiano que vem em busca da sua Ítaca, fecha-se agora.
No doce útero que é a casa entram e ficam todos, Telémaco, o índio Moses, Debbie que um dia talvez venha a ser outra Penélope. Cá fora, de fora, fica apenas, agarrada ao seu amado cotovelo, olhos a esvaziarem-se no infinito, a solidão irremediável, peregrina e estrangeira de John Wayne, espectro de dois metros e 120 quilos, que dá corpo ao mais pungente dos Ulisses, épico como em Homero, trágico como em Dante.
[Continua]