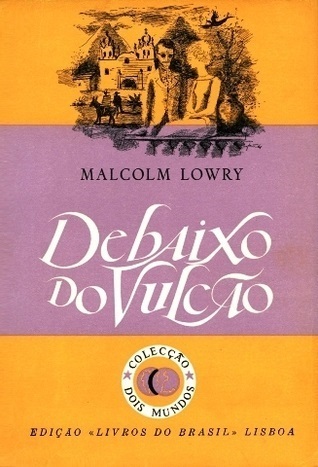Carta escrita há nove anos. Enviada para o endereço certo, como já conferido com os correios celestiais. Continuo a aguardar a resposta de Jean Seberg.

Dear Jean,
Estás estendida no banco de trás da Renault branca. A ideia do corpo estendido, as perfeitas pernas, a nuca tão lisa, é de um erotismo ingénuo, de província, certo para a rapariga de Marshalltown, Iowa que tu foste e nunca deixaste de ser. Mas já estás aí há dias, pele deslavada, corpo em decomposição. Sabes bem que morreste – morreste-te tu mesma – o que os dois ocasionais gendarmes descobrem nesse 8 de Setembro de 1979, fez, há pouco, 39 anos. Tu tens, nesse dia da tua morte, 41 anos. A 13 de Novembro de 1938 não tinhas nem um. Só o nome: Jean Dorothy Seberg. Bebé americana.
Como é que chegaste a ser tão francesa? Foi só por teres sido, Joana d’Arc, Santa Joana, às mãos grossas e implacáveis de Preminger? Foi ele que procurou e te escolheu, entre virgens, concubinas, cheerleaders. Filmou-te como quem sacrifica. Rapou-te o cabelo e queimou-te a preto e branco.
Depois, a cores, fez de ti Cécile. Vestiu-te blusas leves, calções que oscilam entre o curto e o muito curto, fatos de banho vermelhos, amarelos e azuis que te fazem fina a cintura, cabelo dourado quase rapado, a nuca, sempre a nuca tão bonita, e o vestido preto preso ao pescoço por uma gola delicada, pequenina. Sabes bem que bastava esse filme, que te bastava a incestuosa insinuação de Bonjour Tristesse, o filme mais a cores que existe, para que fosses – sejas – muito amada.
Mas ainda tens, querida, o A Bout de Souffle com o Godard. J’ai envie de faire [avec toi] beaucoup de petites choses qui me plaisaient, disse-te ele, diria eu. E tu foste directa, natural – não te parecia custar nada –, amoral. No fim, dégueulasse e lírica como, mas menos cruel do que bonjour… tristesse tanta, a maior tristeza, de choro duro e histérico, o teu melhor filme americano, sem desculpas de história francesa ou de Verão de Riviera, foi Lilith. Tinha de ser um tipo de Nova Iorque, Robert Rossen, judeu, comunista, com uma sensibilidade de arco de violino escondido num corpo de armário. Filmou-te tão bem. De fazer raiva. Esquizofrénica e linda. Ninfomaníaca e linda. Queremos ficar presos no tumulto perverso dos teus olhos, meter a boca na tua boca, mesmo sabendo que é de outras, mais bocas.
O que é que te aconteceu depois? Já me contaste os casamentos infelizes, a tua peregrina simpatia pelos Black Panther, a morte da tua filha Nina, e o ciclo depressivo de 9 anos. Esqueceste-te de contar o resto, como é que, depois de teres nascido a 13 de Novembro no Iowa, 41 anos passados, em Paris, te separas de céu e terra e te deixaste deslumbrar pela noite escura de breu, sem sequer me deixares dizer-te, ao ouvido, que não quero, e ainda menos em Paris, que ninguém morra aos 41 anos de idade.