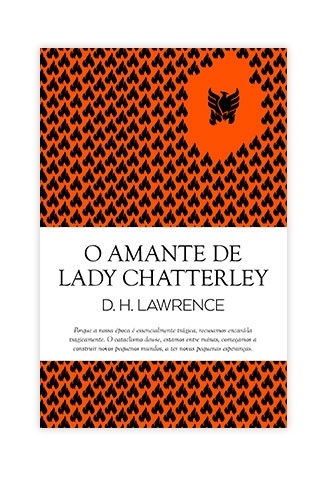Há cinco anos, quase seis, escrevi este texto. Um desabafo meu. Agora, sem lhe mudar uma linha, deixo-o aqui. É isto que, a par de uma lúdica e calmíssima simpatia, me ligava ao José Mário.
Chamar-lhe canção é pouco. É poema. Voz e corpo em transe num palco. Ouvi este “FMI” antes de ser gravado. Foi na noite em que conheci mesmo o João Bénard, em casa do meu melhor professor de filosofia, o José Gabriel. Ali, na sala, o José Mário cantou e disse, e disse chorando, o “FMI”. Foi um tumulto, o peito de cada um de nós, na sala, tomado por uma loucura rubra.
O texto, a torrente de violência deste texto, terá surgido como uma erupção ao seu autor. Diz José Mário, no preâmbulo, que tudo lhe aconteceu numa noite de Fevereiro de 1979. Não ignoro o ferro e fogo da mensagem política. Mas perdoar-me-ão e perdoar-me-á até o grande coração do José Mário, além das nada despiciendas circunstâncias, que de outra maneira (ou será a mesma?) Portugal há pouco repetiu, esta canção, este texto que é muito mais uivo do que outros poéticos uivos, está para lá da mensagem política que contém. Quando, em escrita automática, surreal, José Mário começa a desfolhar o malmequer – né, filho? – quando a cada um pergunta, e em cada um é sobretudo a si mesmo que se pergunta, onde está o teu extremo oriente, filho?, naquele ritmo de pop-chula, na ironia raivosa, no negro sarcasmo, o que se ouve é a voz e o canto de um homem sozinho, a caminhar na sua terrível, irreversível solidão.
A mim, que não partilho a leitura política a que legitimamente se pode querer resumir ou ligar esta canção, o que nela me incendeia é o individualismo radical, inóspito, essa angústia do caralho de um tipo que se sofre sofrendo o mundo. Cada palavra, que em “FMI” se diz e canta, tem uma cabeça fabulosa, é uma criatura viva, física. E o individualismo visceral, que ironicamente contrasta com a tintagem ideológica colectivista, é que é o arco e a flecha desta canção. Busca pessoana de um mar que nos ensinava a sonhar alto, “FMI” é a canção, o violento ranger de dentes de um homem que quer respirar a felicidade. Esta é a canção do homem que quer que se foda, e quer ser feliz, agora. Se formos exigentes, não há desejo mais extremo nem mais egoísta. Tanto que, desse caos de culpas nocturnas e antiquíssimas, desse deserto de angústias sem saída, este “FMI” só se resgata no apelo de baba e ranho à mãe, ao nome da mãe sete vezes gritado.
Ouvi-o, na sala da casa do meu professor de filosofia antiga, numa noite de 1979. Poema, canção, manifesto fulminante. E soube, então, que a esta angústia nunca se escapa, desta angústia nada, ninguém nos salva. Cada um de nós está sozinho e grita, de um ventre de medo, o nome mãe a um muro de trevas. Sete, setenta vezes.