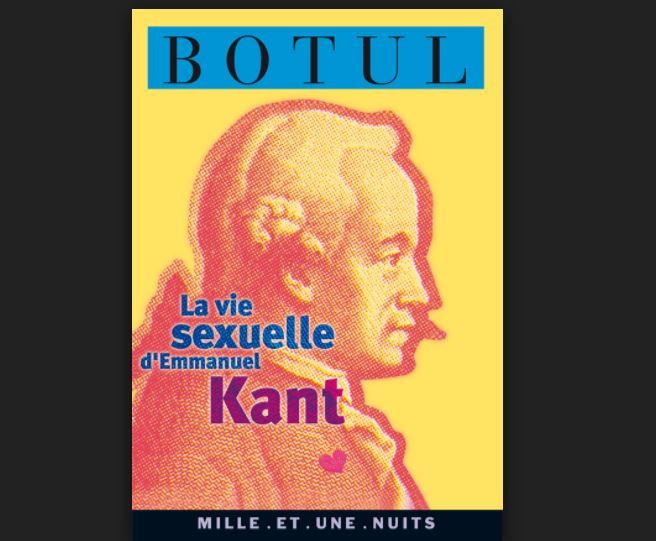Gosto de starlets. Negá-las, seria negar a minha adolescência. E o cinema precisou tanto delas. O que seria de Botticelli sem Vénus, essa starlet do Olimpo? Peço desculpa aos cinéfilos mais fundamentalistas, mas de vez em quando faz-me falta um fim-de-semana com Elke Sommer, fazendo notar que esta prosa foi redigida em tempos que menos prezavam a elegância política da Senhora Merkel .

Agora, a alemã Merkel já parece sexy mesmo à esquerda fracturante. Ora eu lembro-me que, grossos lábios pré-botox, grandes olhos de malícia infantil, nascida em Berlim quando pelo bigodinho do suástico Adolf passava o desvairado sopro da expansão, houve outra alemã que, anos 60, trouxe esse thrill que põe um calor húmido na escusa respiração de uma sala de cinema.
Chama-se Elke Sommer. Fotografa com a descarada ingenuidade que a perfeição do corpo, todinho em 3D, mais acentua. Via-a, agora, em “Deadlier Than the Male”, hospedeira em avião privado, a levantar a saia para tirar um charuto, que uma liga lhe prende à abençoada perna. Dá-o a um passageiro especial e acende-lho. O homem puxa uma passa com o celerado prazer com que Boris Johnson apoiou o Brexit. Puxa a segunda passa e uma bala, que o charuto esconde, dispara-se, abrindo-lhe um insidioso furinho na nuca. Está, digamos, morto. De pára-quedas à James Bond e já de fato de banho, Elke salta. O avião armadilhado explode atrás dela. O que Elke mata, nesse filme…
Se esta fosse uma crónica séria, com o decoro de um vago respaldo académico, diria que Elke Sommer foi o epítome da starlet. Dito à maneira do miúdo que fui, e que com ela privou no escuro do cinema e na intimidade couché das edições vintage da Playboy de 1964 e 1967, direi que Elke, filha de pastor luterano, foi uma alegria praticante para os meus olhos católicos.
Numas férias com a mãe, elegeram-na Miss Turista, em Viareggio, com foto no jornal. Viram-na outros olhos católicos, os do Signor Bertelli, que lhe bateu à porta da pensão, convidando-a a filmar “O Amigo do Jaguar”. Viu-a, depois, Vittorio De Sica: atirou-a para as estrelas, ou seja, para a América.
Filmou com Paul Newman, Peter Sellers, Glenn Ford e James Garner, mas o incidente que a ressuscitou nos jornais foi ter pespegado com um processo a Zsa Zsa Gabor, outra starlet. Foram as duas domar bichos no Circo das Estrelas e Gabor disse a jornais alemães que Sommer estava na miséria, vivia de vender roupa e parecia uma avó careca de cem anos. Tudo mentira e Gabor foi condenada a pagar três milhões de dólares. Pior, a última palavra foi a da ingénua Elke: “Tiveram de vir quatro homens pôr Zsa Zsa em cima de um cavalo, tão pesado tem o imenso rabo.” Por mais que a visada Zsa diga acomodar o posterior numas calças juvenis, a imagem dos homens a levantá-la em peso já é um número de circo.