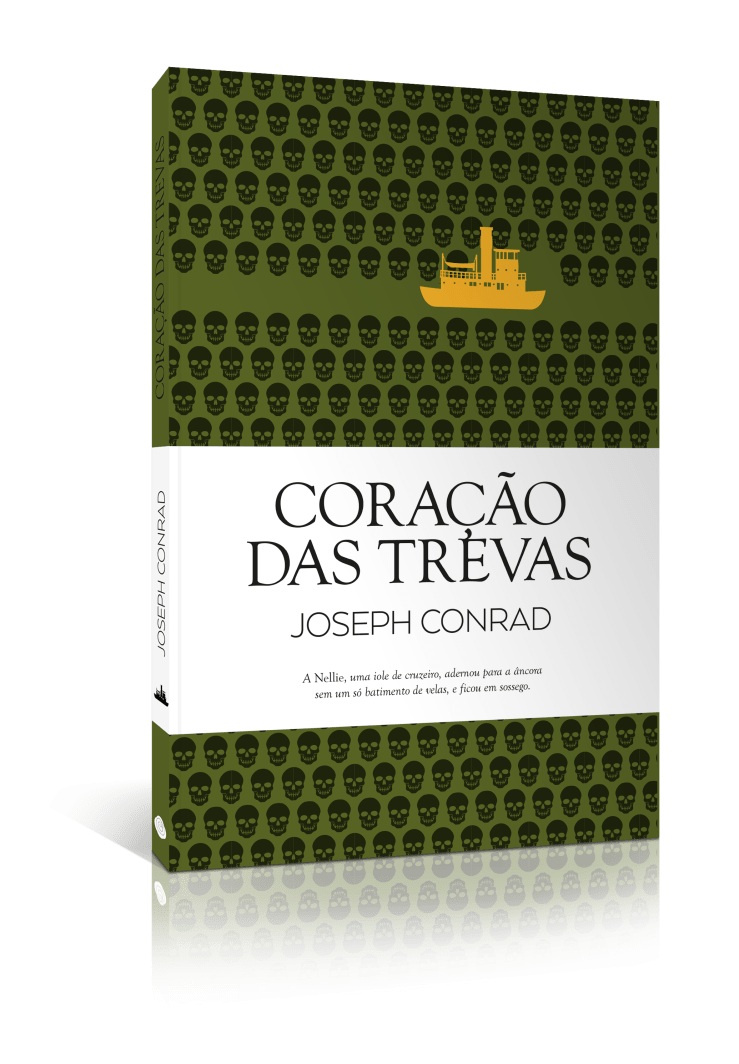A 15 de Abril de 1989 escrevi este texto sobre Chaplin, na revista do jornal Semanário, sob a asas de Victor Cunha Rego e João Mendes, a convite do meu falecido amigo Matos Cristovão, num jornal onde também escrevia o Fernando Sobral, para só falar de gente por quem tenho muito carinho. Já passaram mais de 30 anos, já reciclei um ou outro parágrafo para novos artigos, agora reciclo o artigo inteirinho, sem tirar nem pôr. Passaram 30 anos, tinha eu 36, e não mudei assim tanto: é o que penso do genial Chaplin.

Devia ser mau como as cobras. Aos cinco anos, quando o pai morreu, Chaplin seguia no cortejo fúnebre mimando o sofrimento e as expressões de dor da sua mãe. Sidney, o irmão mais velho, não resistiu e desatou à gargalhada. Pode olhar-se com alguma benevolência para o episódio, mas pode também encarar-se como sintomática a atitude de Chaplin.
É boa altura, em pleno centenário de Chaplin, para vir com esta conversa. Amanhã é dia de fogo-de-artificio e os festejos, hoje, já vão em bom ritmo. Haverá missa cantada e não faltarão responsos para incensar um dos maiores génios do século (que era, de facto), e a louvar a torrencial humanidade de Charlot (que eu não duvido que a seu modo ele tivesse, entenda-se).
Com aquela visão, perde-se, todavia, o essencial. E num centenário comemorado com inteira justiça, também não caem os parentes na lama a ninguém se se disser a verdade, nada mais do que a verdade. Ora, grande parte da verdade é que Charles Chaplin foi muitas vezes mau como as cobras e, como escreveu Thomas Burke num testemunho que o convívio íntimo torna precioso, durante duas horas podia ser a pessoa mais amável com quem já alguma vez se conversara para, sem a mínima razão aparente, se transformar na mais petulante e áspera das pessoas».
Pode objectar-se que «personalidades mercuriais», igualmente capazes deste tipo de variações, existem às centenas e particularmente nos meios artísticos. De acordo! Mas neste ponto ainda a procissão vai no adro. Falta, por exemplo, referir que Chaplin nunca escondeu serem a fama e o dinheiro os fins últimos da sua criação. E falta referir a sua peculiar e brutal relação com as mulheres. Lá chegaremos.
Não se pode passar em branco o sacrossanto argumento «de ordem social» que muitos ilustres comentadores ou biógrafos de Chaplin serão tentados a invocar. É sabido que Chaplin passou uma infância miserável e que, depois da morte do pai, levou vida de cão, internado num orfanato e com a mãe num asilo de alienados. Não é menos verdade que a primeira vez que atiraram com ele para cima de um palco, foi para substituir a mãe, minada pela doença, causando a surpresa do público e provocando uma autêntica chuva de moedas no palco. Chaplin interrompeu o número para apanhar o dinheiro e pediu desculpa ao público dizendo que recomeçaria logo que tivesse deixado as moedas no regaço materno. Ganhou mais risos e mais moedas.
Não sei se acham graça. Eu acho macabro. E creio que Chaplin deve ter achado a mesma exactíssima coisa. A melhor prova do seu ressentimento pode encontrar-se nos seus filmes. Sobretudo nas situações que abordou nos primeiros anos da sua carreira: o trabalho, a vida social e o amor são desenhados de uma forma inumana, brutal e desapiedada. Nos primeiros e nos últimos dos seus filmes, porque de Charlot no Cinema ou Charlot Pianista ou Charlot Boémio a Monsieur Verdoux ou a Um Rei em Nova Iorque a monstruosidade é uma constante, sendo evidente o comprazimento de Chaplin em extrair da mais acabada tragédia ou do mais destemperado ridículo o riso e a comédia.
Trágico foi o mote que ele glosou em A Quimera do Ouro. O filme baseou-se num facto verídico: um grupo de pesquisadores de ouro perde-se durante o mais rigoroso Inverno. Os sobreviventes, acossados pelo frio e pela fome, comem os cadáveres dos que vão perecendo. Foi este o material abominável de partida para A Quimera do Ouro, porventura uma das maiores comédias de todos os tempos.
Mas houve ainda detonadores mais ignóbeis: o primeiro filho de Chaplin nasceu malformado e morreu três dias depois. Dez dias mais tarde, Chaplin começou a fazer testes a miúdos para um filme que se haveria de chamar The Kid. O que pode querer dizer (e eu acho que quer) que a crueldade de Chaplin começava nele mesmo, sem qualquer indulgência.
As histórias dos seus casamentos são igualmente reveladoras. Depois de ter acabado o affair com Edna Purviance – um concubinato estável e feliz de três anos – Chaplin encontrou uma rapariguinha de 16 anos numa festa de Samuel Goldwyn. Na altura, Chaplin era o mais belo solteirão de Hollywood, «com os dentes mais brancos que já alguma vez se tinham visto, os mais azuis dos olhos e as mais negras das pestanas», como rezavam as crónicas da época. Mildred Harris, como se chamava a menina, compunha na perfeição o ideal feminino dele. Quando deram por isso ela estava grávida (ou, como veio depois a saber-se, clamava estar). Chaplin não podia arriscar o escândalo e não teve outro remédio se não casar. A chegada dela ao registo ele teve um comentário sibilino: «Sinto um bocadinho de pena dela.» Não era caso para menos. Foi a catástrofe. Primeiro, verificou-se que a gravidez era falso alarme; segundo, Chaplin considerava que o casamento lhe debilitava a inspiração e lhe arruinava a carreira; terceiro, houve o episódio da morte do primeiro filho. Dois anos depois, Mildred divorciava-se acusando-o de crueldade mental. Tinha boas razões para isso, como o próprio Chaplin reconheceu.
Outra faceta – a negação quase absoluta do sentimentalismo em geral atribuído a Charlot – surge com o «coup de foudre» Pola Negri. Foi o encontro entre a Rainha da Tragédia (vinda das mãos de Lubitsch, com quem fizera Madame Dubarry) e o Rei da Comédia. Da celebrada palidez dela dizia-se só ser comparável «à textura cremosa das pétalas de uma camélia». Eram vistos mais agarrados do que a lapa à rocha e, legitimamente, Hollywood preparou-se para o casamento. Que não houve. Ele veio dizer que era demasiado pobre para se casar e que o «meu mundo é o trabalho do dia-a-dia, que me mantém ocupado e me afasta dos clímaxes do sentimento.» Pola Negri tornou ainda mais prosaica a versão dele: «Sou demasiado pobre para casar com Chaplin. Ele precisa de uma mulher rica.»
Ainda o episódio Negri não arrefecera quando começou o tormentoso romance com Lita Grey. Era o «anjo da tentação» de The Kid. Tinha doze anos. Três anos depois voltou a aparecer a Chaplin e, com quinze anos e uns meses, já era uma mulher crescidinha. Fez os testes para leading lady de A Quimera do Ouro, acabou em leading lady de Chaplin. As filmagens começaram e, de repente, outra vez, ela informa-o de que passara ao estado interessante. Segundo as leis da Califórnia, sendo ela menor – e se era – Chaplin arriscava-se a ser acusado de violação, punida com 30 anos de prisão. Antes o casamento que tal sorte. Corria então o escândalo Ince que, por via indirecta, tocava Chaplin. O multimilionário R.W. Hearst abatera o produtor e realizador Thomas Ince, que surpreendera à média luz com Marion Davis, sua mulher. Constava que ela se encontrava com Chaplin e, à média luz, Herst deve ter tomado Ince por Chaplin, tanto mais que tinham estatura semelhante. Chaplin foi ao funeral de Ince e, três dias depois, casou com Lita Grey. Foi o funeral de Lita. Primeiro, perdeu o papel em Gold Rush; segundo, sofreu os vexames de várias infidelidades de Chaplin, envolvendo Marion Davis, Georgia Hale (a nova protagonista de Gold Rush) e até Merna Kennedy, uma amiga sua que seria a protagonista de The Circus. Abandonada num casarão de Beverly Hills, Lita vingou-se pedindo o divórcio num documento histórico, em que acusava Chaplin de tudo, mesmo de práticas sexuais cuja heterodoxia a lei californiana estritamente interditava.
Vai longo o requisitório contra Charles Chaplin. Poderia acrescentar mais mil pontos a este conto, mas não vejo a utilidade. Além dos aspectos técnicos, da sua espantosa mímica, do seu entendimento do actor como bailarino e da sua concepção perfeccionista do cinema, a genialidade da personagem que criou, Charlot, está na desumanidade de Chaplin. Nunca teve limites. As tragédias próprias ou alheias são o capital cómico dos seus filmes; o seu narcisismo fez com que centrasse em si mesmo os seus filmes; o seu ressentimento contra o mundo impôs às suas sátiras um além de todas as convenções, que nem mesmo Buster Keaton terá cultivado. E só por isso toda a humanidade se revê nos seus filmes. Porque é assim que somos: cruéis, sacanas, perversos, preguiçosos, aldrabões, mesquinhos, avaros, infiéis. Assim somos e assim fazemos. E se alguma coisa esperamos é, ainda e sempre, o anjo da tentação. Alguém disse sentimento? Mas poderá haver mais sentimento do que este?