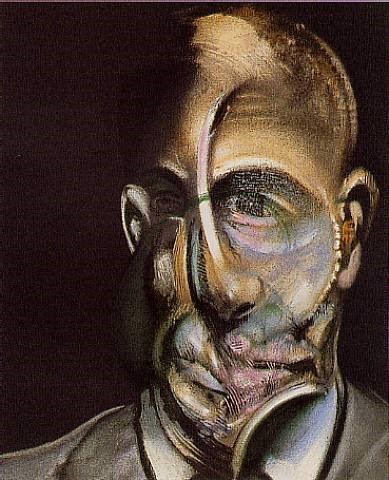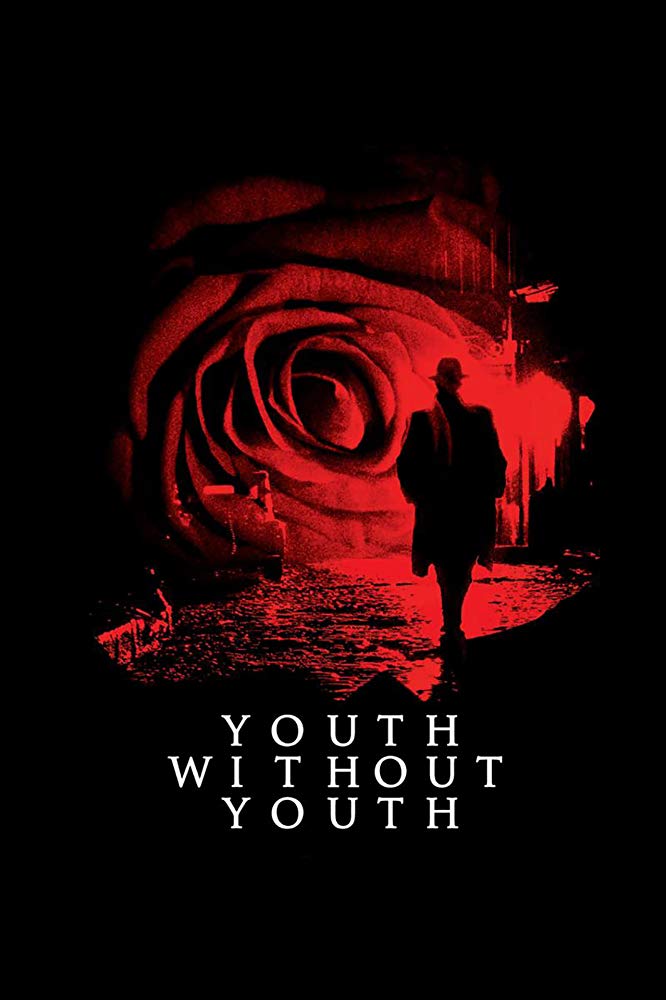Mil vezes a Idade Média, ia eu a dizer. E já sabia que estava a exagerar. Mas a Idade Média cristã não proibia imagens e isso é o que não podem dizer os vigilantes que em tantos lugares desta segunda década do século XXI vasculham museus e estabelecem padrões alfandegários para contabilizarem a ingerência de género, o peso étnico, a incheirável sexualidade intempestiva. Este é um tempo em que, dos fálicos nus de Mapplethorpe às talvez não imaculadas cuequinhas da menininha de Balthus, passando pelas apropriações culturais, se passa meticulosamente em revista um delirante sub-texto, flagelando-se as artes (e o pensamento) com chicotes moralizantes que impõem a ortodoxia de várias seitas a que chamarei, porque é o que elas são, minorias identitárias.
A pretexto das mais nobres e utópicas defesas do género e do trans-género, do anti-racismo, que sei eu, pululam censuras e adoptam-se proibições de um reaccionarismo atroz – se forem ao site do Partido Democrático dos EUA, sob o chapéu de People encontram 19 grupos minoritários, reforçando uma divisão que nega o universalismo do que deveria ser um partido nacional, mas isso é já outra conversa.
Estas proibições vanguardistas são proibições que nos fazem ter saudades da Idade Média. O monoteísmo cristão não interditou a pintura e a escultura, alegando que a “honra concedida à imagem reenvia ao protótipo”, ao contrário dos monoteísmos judeu e islâmico, que se refugiaram na impossibilidade da representação visual de Deus. E se ainda houve, no cristianismo, um conflito com a linha iconoclasta bizantina, que advogou a destruição das imagens, a Idade Média primou, vencido esse óbice, por uma extraordinária proliferação e liberdade da representação visual do quotidiano e do transcendente.
Todas as imagens. Fossem elas sagradas ou obscenas. Fossem pintura ou escultura ou iluminuras. As imagens triunfantes foram as de Jesus Cristo crucificado, nalguns casos representado em extremos de sofrimento a roçar um horror sangrento, e a Virgem Maria de que foi imensamente popular uma escultura em que a barriga da Santíssima Mãe se abria e lá se encontrava o Trono da Graça, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quase se sugerindo que a Trindade fora concebida no seio da Mulher.
Mas não pensem que a liberdade da imagem se reservava ao que fosse só edificante. Um bispo, Guillaume Durand, fixa, na segunda metade do século XIII, a doutrina, recorrendo à sabedoria do romano Horácio: «Aos poetas e aos pintores pertence a igual liberdade de tudo ousar.» E o bispo vai mais longe e manda às urtigas uma reserva de Horácio, reserva que teria liquidado toda a pintura de Bosch, a saber, o conselho de se deve evitar pintar «um belo busto de mulher que depois termine num feio rabo de peixe.»
A Idade Média pintou todos os rabos que quis e sereias também. A começar por S. José de rabo para o ar, sempre em tarefas ridículas, que insinuam uma duvidosa virilidade, passando pela florescência de falos e vulvas nas igrejas, com cenas de coito que estimulariam a fecundação das mulheres, como era o caso do grosso pino de madeira que servia de pénis a São Greluchon e que as mulheres rapavam para engolirem o pó em casa, o que obrigava à regular substituição ou acrescento do membro viril do esfregado e rapado santo.
Os livros de horas estavam cheios de orações e escândalo – que ao tempo não parecia escandalizar ninguém. Neles havia monges a dar o cu nos bosques ou em cenas de sexo com mulheres. E havia macacos – uma forma satírica de representação do clero – a defecar em cálices, com a expressiva legenda «Este é o meu corpo».
Nada disto era proibido ou escondido. Era livre, para não dizer libérrimo e só a Reforma e a Contra-Reforma vieram anular essa livre deambulação da sátira, esse livre encontro do obsceno com o sagrado.
Como é que, hoje, os grupos identitários, reclamando-se de esquerda e pela esquerda reclamados, tão fracturantes no discurso e na engenharia social, podem ser tão reaccionários que nos conseguem fazer pensar nestes frades copistas, nestes pintores de aldeia, nestes mestres escultores da dita obscura Idade Média como se fossem campeões da liberdade e das artes?

(Esta minha prosa tem as suas fontes. Nasceu de duas leituras: a de uma entrevista do historiador de arte Jean Wirth, professor honorário da Universidade de Genebra, à revista Histoire; e uma recensão de Pascal Bruckner às teses do filósofo americano Mark Lilla, professor na Columbia University, de Nova Iorque.)