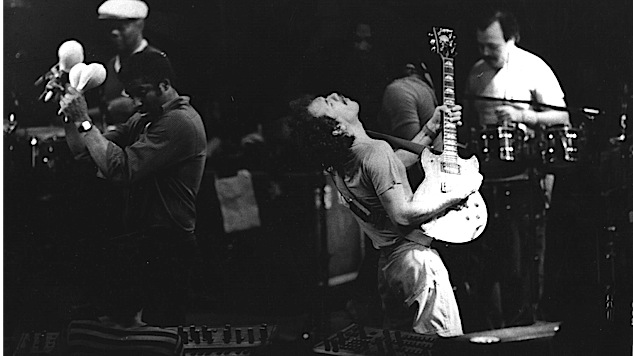Daniel Arasse, historiador e teórico de arte francês, que morreu em 2003, desafiou-me e desafia-nos, se o lermos, para um exercício que é prova provada de que surpresas, surpresas, as melhores vêm-nos do cemitério.
“Já viste a Mona Lisa?”, perguntou-me. Olhei-lhe para o cadáver com superior vivacidade. Não ligou nenhuma e continuou: “Deixa-me descrever-te o quadro e não te admires do monte de coisas que vais admitir que nunca tinhas visto.” Tenho pena que não possam estar a vê-lo e ouvi-lo. Conto eu que não é mesmo a mesma coisa, mas é o que se arranja.
Ele disse-me e percebi logo que era verdade: a Gioconda, Lisa del Giocondo, está sentada numa varanda. Não vemos, mas há uma coluna à esquerda e outra à direita, típicas colunas duma loggia fechada por um murete baixo que no quadro, atrás dela, não distinguimos.
Ela, a Mona Lisa, está sentada num cadeirão (de verga, claro) de braços altos, num dos quais apoia (vejam!) o braço esquerdo. A loggia está num ponto alto – só pode, porque a perspectiva é a de um fundo distante, difuso, de rochas, terra e água, de difícil legibilidade. Eu, por exemplo, juro que à esquerda da cabeça e do misterioso sorriso da Gioconda vejo uma massa em que se fundem rochas e árvores, enquanto Arasse diz que não senhor, nem uma árvore, só a linha fina de um lago, e nenhuma construção humana, nenhuma presença humana. O que, explica-me o paradoxal Arasse, não é verdade. O olhar de Gioconda denuncia a presença do pintor, de Leonardo Da Vinci? Sim, como o de quase todos os modelos. Mas não há só um olhar, há também um sorriso. (Arasse ensinou-me, mas desconfio da informação, que foi o primeiro sorriso da história da pintura). E o sorriso, digo agora eu, não está dirigido na exacta direcção do olhar.
Lisa Gherardini sorri para Francesco del Giocondo, seu marido, que, de pé, três passos atrás de Leonardo, a contempla, orgulhoso dela e dos dois filhos varões que ela lhe deu. Estão lá os dois, Leonardo no olhar, Francesco no sorriso. Nos dedos longos, os da mão direita entreabertos de acariciar a seda da manga, no peito que, depois de sofregamente beijado por Francesco, já amamentou, na alta testa, na pele ainda tão fresca, perpassa a felicidade de uma mulher que se cumpriu e que sabe que é modelo de uma pintura que vai colocar no novo palácio que Francesco comprou. Não sabe ainda, não pode adivinhar, que Da Vinci, vizinho deles, nunca lhe irá entregar o quadro.