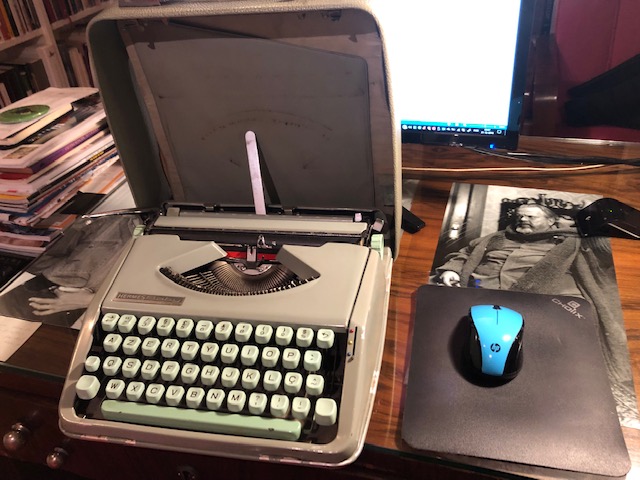Gabrielle d’Estrées era a favorita do rei e o rei era Henrique IV, convertido ao catolicismo para que pudesse ser o primeiro dos Bourbons a reinar em França. Gabrielle é a figura feminina que vemos na pintura, à direita. E quem, no banho, lhe aperta a tumescente doçura não é a mão do rei, mas só os inócuos dedos (indicador e polegar) da duquesa de Villars, sua irmã.
A beleza das duas mulheres, a intimidade sáfica que emana do quadro, faz dele uma obra-prima. Sabemos, para quem se preocupe com autorias, que pertence à escola de Fontainebleau e deverá ter sido pintado em 1594, o que quer dizer que sabemos pouco, quase nada.
O gesto da duquesa requer, dir-se-ia, explicações. A interpretação triunfante é de natureza simbólica: a insólita carícia que o quadro retrata seria a celebração da maternidade de Gabrielle. Os dedos da duquesa apertam o mamilo de uma grávida, o que a doméstica ao fundo, a costurar roupa de bebé, vem confirmar. Rendo-me: a delicadeza dos movimentos e dos olhares convida-nos, com gravidez ou sem ela, a só tocarmos neste quadro com gravidade e pinças.
Olhando com vagares que o turista do Louvre não tem, vemos que o artifício das teatrais cortinas contrasta com o realismo da iluminação, luz natural que entra pela esquerda – mas como é que chega tão límpida e exterior a esta recôndita câmara em que duas mulheres se banham?! Seja como for, aceites todas as convenções de trompe l’oeil em que o quadro é pródigo, há um pormenor deslocado que me provoca inexplicável sobressalto – não, não é o anel que, não no dedo que é deles se enfiarem, Gabrielle exibe na mão esquerda parecendo sossegar-nos quanto às futuras intenções de um rei que, por falar em mãos, morreria às de um fanático católico numa rua de Paris. O deslocado pormenor a que me refiro é o quadro que está em “arrière-arrière plan”, por trás da modesta costureira, sobre a lareira, e no qual uma cortesã exibe o potencial dos seus favores em propícia abertura de coxas.

Audácia da mão esquerda do pintor a sublinhar a ilicitude que a mão direita não podia em primeiro plano pintar: Gabrielle d’Estrées prometida rainha, influenciou a corte e comportou-se nela como soberana, sem que nunca o tivesse chegado a ser. Morreria, com o feto, no parto prematuro. Teve funeral de lapidar majestade: Henrique IV, que a amava em público e em privado, ajoelhou-se e a corte com ele, num sentido Requiem, na Basílica de Saint-Dennis.
O quadro do banho de Gabrielle e sua irmã foi objecto de cópias e pastiches: Este que se expõe no Museu de Belas Artes de Lyon.

Ou o que Alain Jaquet, “pop artist” francês que em NY andou pelos lados da Warhol e Lichenstein, pintou, dando-nos moderna e desencantada Gabrielle d’Estrées que, com a original, tem agudas dissemelhanças.

Paródica embora, a liberdade fotográfica deste extremo exemplo oriental saúda também a grandeza inatingível dos mestres de Fontainebleau.