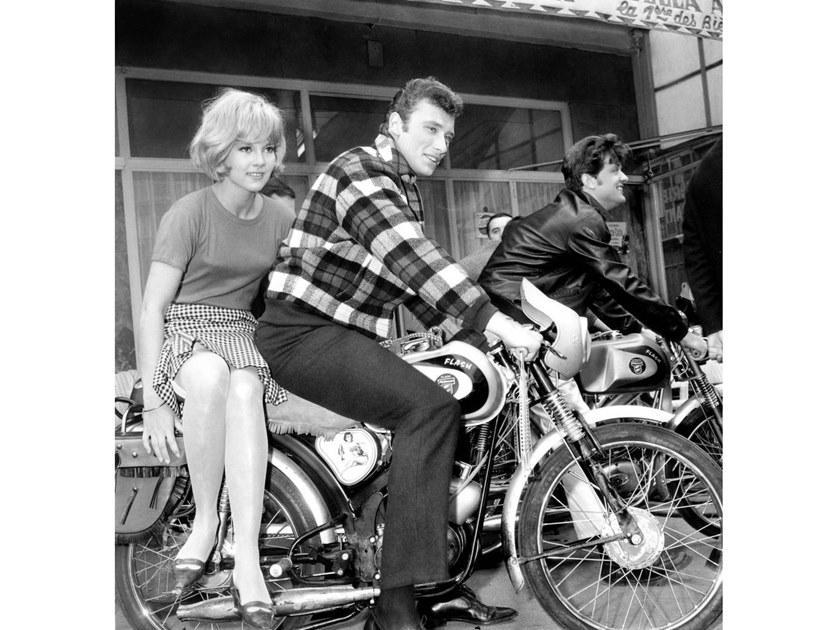Gaby Deslys foi a rainha não-coroada de Portugal. Talvez nunca tenhamos tido uma rainha tão bela. Esta francesa, corista em cafés, tinha uma vozinha de nada, mas uma imaginação copiosa. Estava na fila de corista, quando pensou o que seria, se em vez da ligeira lingerie, se enchesse de plumas, tafetás e lantejoulas. Pode haver dúvidas sobre os pesos e medidas do juiz Ivo Rosa, dúvidas sobre a fantasia ou a competência do procurador Rosário Teixeira, não há é nenhuma dúvida de que Gaby Deslys inventou o music-hall.
Levou a ideia para os espectáculos que montou no Moulin Rouge. Inventou a escada no palco, uma via láctea de luzes, a orgia de cetim e bailarinas semi-despidas e foi um desses espectáculos que, em Julho de 1909, realíssimo posterior colado à fofa cadeira, Sua Majestade Fidelíssima, o rei D. Manuel II, viu em êxtase, esquecendo por horas e mandando com gosto às malvas as lusitanas intrigas republicanas.
D. Manuel, no fim do music-hall, não cabia nele e já veremos o que menos ou mais cabia. Levaram Sua Majestade aos bastidores. Bateram à porta do camarim de Gaby, anunciando, “Pela Graça de Deus, Manuel II, Rei de Portugal e dos Algarves, d’Aquém e d’Além-Mar em África, Senhor da Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia” e a porta abriu-se. “Toda a dança atrai a força, toda a caça atrai os bichos”, escreveu um dia Herberto Helder, e eis como dança, força, caça e bichos povoaram, cintilantes, o primeiro olhar de Manuel e Gaby.
Foram amantes instantâneos. Gaby fazia uma tournée na América quando D. Manuel foi deposto e a República instaurada em Portugal. O contrabandeado amor dela e do rei não era desconhecido e a Imprensa atirou-se-lhe, num assédio pré-socrático. Libérrima, disse em Pittsburgh: “Foi amor à primeira vista e tornei-me sua amante. O amor que lhe tenho e o amor que ele me tem, justifica-o aos nossos olhos.”
Todo o rei que se deita por amor com uma corista é um herói. Junte-se ao garbo de D. Manuel, à sua fina cultura, apesar dos seus apenas 20 anos, a labareda e o ferro vivo do amor e terão os leitores a medida do seu heroísmo. Sublinho: D. Manuel II, rei de Portugal, não procurou a adolescente, a virgem tímida e desajeitada. Gaby tinha mais nove anos do que o rei e Manuel bebeu nela a mulher senhora de si, independente e desafogada.
Trouxe-a a Portugal. Era preciso escondê-la da Imprensa e dos republicanos. Como a terá levado para as noites, que já se imaginam ternas e tórridas, no Palácio das Necessidades? De madrugada? Embuçada? Diz-se que não, que chegou de caleche lavada pela luz de fim de tarde de Lisboa, o coleante Tejo a rivalizar com ela em brilho e curvas.
Beijo e juro sobre este punhal que me trespasse o coração se minto: Gaby não amou o jovem rei por dinheiro. Mesmo o colar de 70 mil euros que, com vénia, Gaby recebeu das mãos reais e gentis de D. Manuel, e talvez valesse hoje mil milhões, era sumptuário para quem ganhava a, então, fortuna de quatro mil dólares por semana em Nova Iorque.
Gaby e D. Manuel amaram-se em Paris, em Londres, em Lisboa e no Buçaco. Não foi uma entrevista a Oprah que os separou. A hostilidade da opinião pública, ainda não ilustrada pelos reality-shows da SIC e da TVI, e as pressões dos ministros do reino obrigaram Gaby a regressar a Paris. Deposto D. Manuel, os amantes ainda se encontraram em Londres, mas um ano de Gaby em Nova Iorque separou o que só o amor juntara: “Sim, fui a amante de Manuel e não acho desonra em ter sido a amante de um rei.”
Publicado no Jornal de Negócios