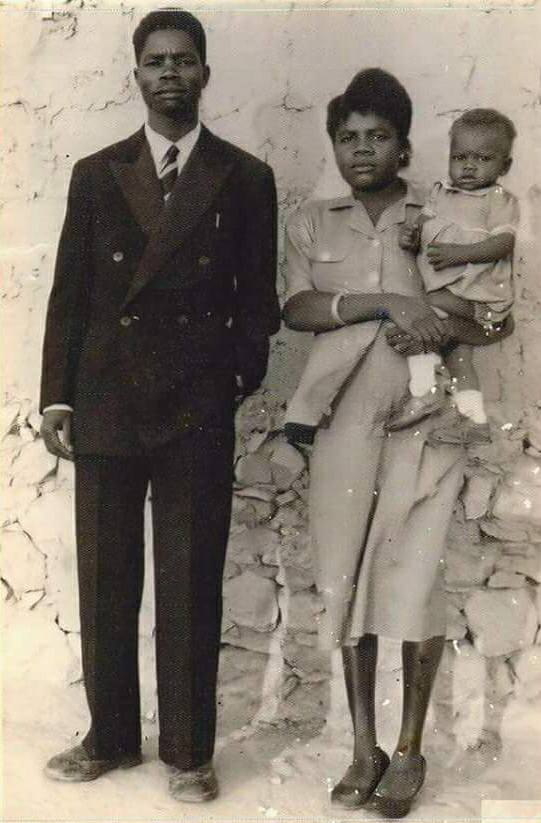“O realismo existe. É uma coisa.” É o que Harry Dean Stanton assevera – que é mais do que dizer – em “Lucky”, o mais belo filme de 2017, garantem os meus olhos, coração e alma, se o velho Harry Dean não me convencesse de que a alma, ao contrário do realismo, não é uma coisa, logo não existe. Qual escola de Frankfurt, qual caneco, se posso também eu asseverar, este filme existe e é uma coisa.
Se esperam filosofia, não se prendam, que só vou falar de velhice e da linha de horizonte. Lembram-se do paleio de escola primária sobre conteúdo e forma? Conteúdo e forma fundem-se como um centauro em “Lucky”. O filme é essa coisa, com corpo cavalar e pernas de velhice montadas pela periclitante humanidade de um velho de 90 anos a roçar-se na imortalidade. A velhice de “Lucky” está em tudo, na paisagem do deserto, na indecifrável imobilidade dos cactos, no silêncio das ruas da vilória sem nome, fundada no mesmo ano em que Platão fundou a sua caverna: passam por esta vila do Arizona as mesmas fugazes e iluminadas sombras desse grego inaugural que foi, como sabem, o inventor do cinema.
Numa cena, vemos um branco par de cuecas e alva camisola interior a regar, de mangueira na mão, um jardim. O escanzelado corpo que sustenta cuecas, camisola interior e mangueira é o corpo da velhice. Chapéus e botas, parece um corpo agreste, que hesita entre estar zangado consigo mesmo ou zangado com os outros. Mas à medida que deambula pelas cavernas da vila – a casa de Platão, perdão, de Harry “Lucky” Dean, um café-restaurante bom para fazer palavras-cruzadas, uma vaga mercearia mexicana, um nocturno barzeco onde não se pode fumar –, o que vemos é uma velhice socrática, que interroga e se interroga, com a serenidade e aceitação a que a realidade dos cenários empresta mais graça do que densidade. Assim Platão o queira, hei-de morrer a achar mais graça à graça do que à densidade.
“Lucky” é um filme de alegorias. Uma sobre uma tartaruga; a outra sobre o mais belo dos sorrisos. Tartaruga e sorriso – e é outro centauro – fundem-se no final de um filme em que a linha de horizonte me fez pensar em John Ford, num Ford que o realizador de “Lucky” tivesse ido buscar à imensa nostalgia de um certo filme de Peter Bogdanovich. Tudo velho, velho como o cinema, essa coisa que existe e é linda.