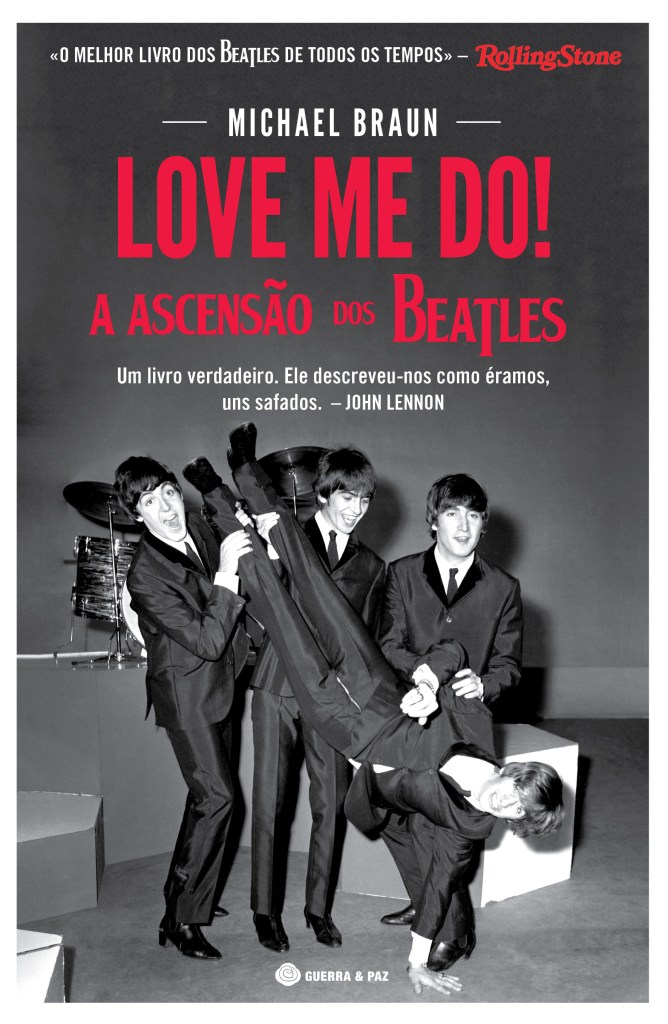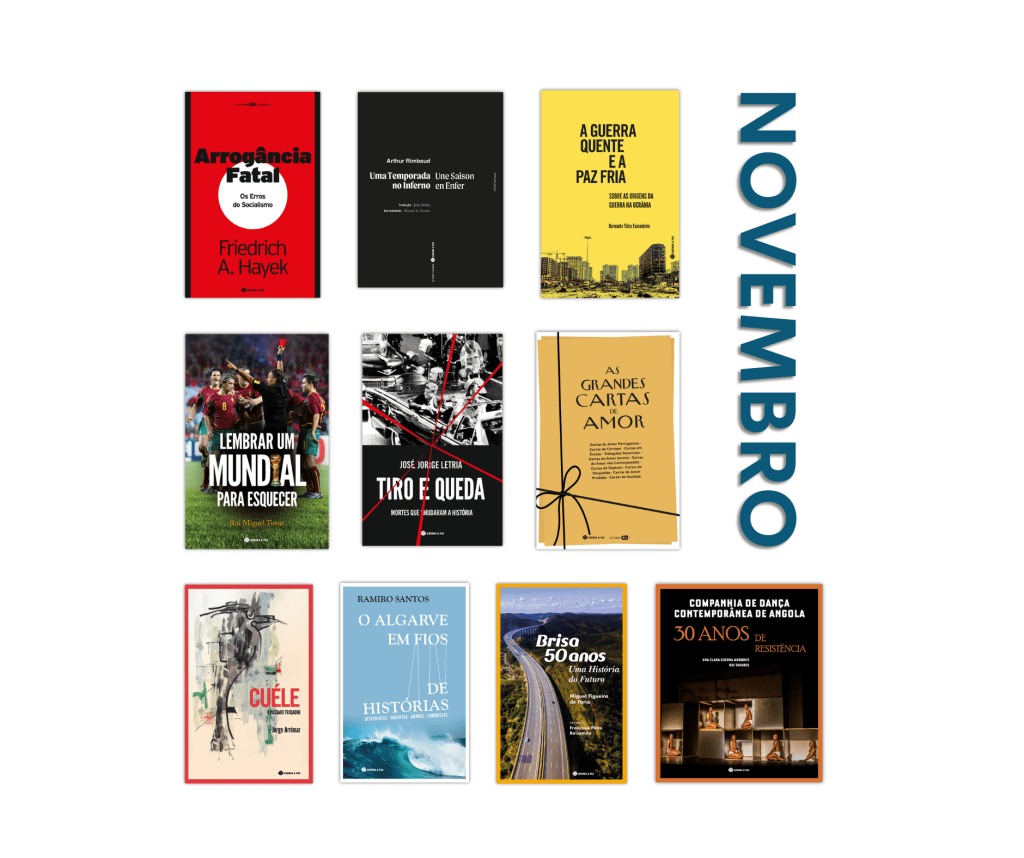A mulher nua é um escândalo do passado. Ou talvez não. Há dias, em Paris, num restaurante, o dono barrou a entrada a duas lábeis e decotadíssimas mulheres: a fenda da Tundavala que se lhes cavava no peito era uma anacronismo de fazer estremecer o século XXI. Há, estremeço também eu, um insidioso prurido a germinar na pele do século XXI. Ou virá o século XXI a ser o século do homem nu?
E já me belisco a mim mesmo: o maior decote que vi, não foi no peito, foi nas costas. Era o decote de Sharon Stone. Ela estava à minha frente, oferecendo o esplendor das costas nuas, o rendilhado desenho de uma perfeita coluna vertebral, das primeiras vértebras cervicais até essas nove vértebras fundidas e finais, cinco do sacro, quatro do cóccix, essa lança sacrococcígea a que se segue o que de mais sumptuário há na anatomia humana.
Eu vi: era o decote do século XX e foi nos estúdios da Warner, em Los Angeles, nuns longínquos MTV Awards, a Madona a dois passos. Houve convívio a seguir, mas a Stone levou-a o vento ou os deuses, e eu consolei-me a comer um hamburger com Danny Glover e a lamber um gelado com Valeria Golino. Lição moral: aquela foi a visão! Mais do que a roubada e fugaz visão do infame descruzar de pernas de “Basic Instinct”, a assumida resplandecência das costas de Sharon Stone, a insinuação do rotundo estuário onde desaguam, é a visão redentora. O que Sharon mostrou nessa noite, mostrava-o porque queria, sem medo e sem equívoco. Era para ver e eu vi: o traseiro decote do século XX.
Estará extinto o escândalo da mulher nua? E onde começou? No cinema? Lembro-me que, no cinema mudo, Mack Sennett despia as mulheres. Inundava as suas comédias de bathing beauties, como depois o genial Busby Berkeley, já o cinema falava e cantava, povoou de fatos de banho cor de pele os seus delírios musicais pré andy-wharolianos.
Mas, convenhamos, há a mulher despida e há a mulher nua. Mal comparando, as mulheres despidas das comédias de Sennett e dos musicais de Berkeley estavam mais vestidas do que as adolescentes do nosso ecuménico turismo a passear no Chiado num dia de Verão. E, se queremos continuar a lembrar-nos, os pintores impressionistas já levavam duas ou três décadas de avanço ao cinema mudo: debaixo das árvores francesas, em almoços à beira-rio, já a nua nádega e a alva coxa femininas faziam, sobre as ervas, a transição do século XIX para o XX.
E se querermos mesmo ter uma conversa séria, ousemos chamar à colação as mulheres nuas, sentadas ou deitadas, do austríaco Egon Schiele, que as pintou, adolescentes ou maduras, entre 1910 e 1918, para grande horror do imperador Francisco José e dos tribunais dele. As telas de Schiele, que tanto pintou a mulher como as amantes num titilante festim de juvenília, estão, se forem a Viena, num museu, o Albertina. As mulheres de Schiele, de olhos bem abertos, levantam as saias verdes, azuis e vermelhas, expondo sem culpa o que em “Basic Instinct” terá sido roubado a Stone. Só uma mulher, num dos mais humildes desenhos de Schiele, cerra os olhos, um impertinente dedo tacteante perdido nesse pequeno bosque de prazer e angústia que Gustave Courbet crismou como origem do mundo.
Quem reinventará a nudez? Serão as mulheres do século XXI capazes de inventar um sublime homem nu, roubando-o ao gueto de Mapplethorpe ou do crucifixo cristão? Ou estará o homem nu condenado ao paroquial ponto de vista masculino? No século de normalização da pornografia, é estranho que a nudez seja supletiva. Será! Eu é que não renegarei o esplêndido decote de Sharon.