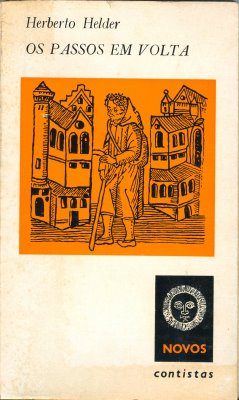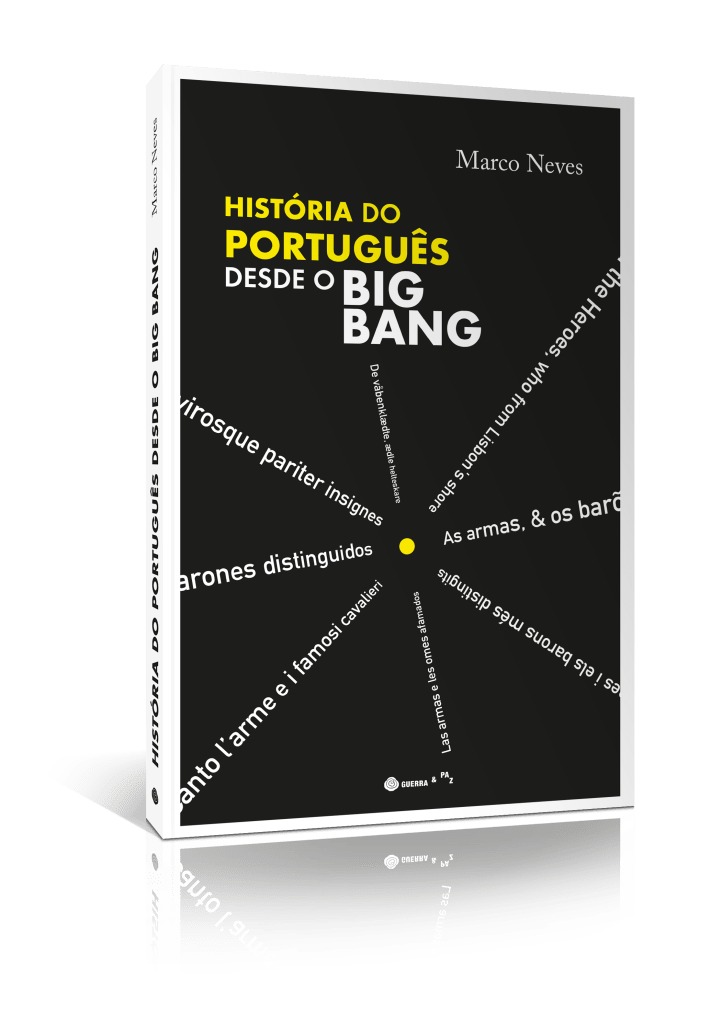
Este não é só um livro bonito, é um livro que nos pede para usarmos a palavra “importante”. Este livro, cujo corpo é o de umas boas 200 páginas de prazer e de informação, tem “estilo”: oferece-nos uma visão holística da língua portuguesa, do sonoro Big Bang até hoje, atrevendo-se a antever o ano 2572.
Depois de Assim Nasceu uma Língua, de Fernando Venâncio, eu tenho a felicidade de ser editor deste livro do linguista Marco Neves, História do Português desde o Big Bang. Uma obra controversa também, defendendo para a língua portuguesa uma visão policêntrica: a de uma língua que se ramifica em variantes. Não admira que traga, por isso e por exemplo, novidades sobre a relação entre o português que falamos em Lisboa e o belo português que se fala no Rio de Janeiro ou em Luanda. São investigações recentes, de que Marco Neves nos dá conta, sobre a distância real entre o português, o galego e o castelhano e ainda entre o português europeu e o português americano.
Copio o que Marco Neves escreveu na introdução de História do Português desde o Big Bang:
Pensemos no princípio: Quando nasceu a nossa língua? Terá sido quando alguém escreveu o nome «português» para se referir à língua dos Portugueses? Mas quando tal aconteceu, a língua já andava na boca dos falantes, com características muito próprias, havia séculos. Ou terá sido quando apareceram os primeiros
textos? Mas para se escrever um texto numa língua, a língua já tem de existir… Talvez quando o latim aqui chegou, sofrendo alterações espicaçadas pelas línguas que já cá se falavam? Mas o latim já sofria alterações antes de cá chegar e continuou simplesmente a mudar, sem grande interrupção e sem que ninguém pensasse que estava a criar uma língua nova. O próprio latim já vinha de antes, doutra língua de que não conhecemos o nome que lhe davam os falantes. Essa outra língua também já vinha de trás, doutra língua que também vinha de outra língua, numa sucessão de falares até ao início da linguagem.
Se quero contar a história toda, tenho de contar o que sabemos da história da linguagem humana…
E, para que ninguém vá ao engano, mesmo que seja um ledo engano, é este o índice do livro, que hoje, Dia Mundial do Livro, vivamente vos aconselho:
capítulo 1: 13 800 000 000 a. C. | Big Bang / O início do Universo passou na televisão / Átomos, galáxias e palavras inglesas
capítulo 2: 4 000 000 000 a. C. | A origem das espécies / O mecanismo da vida / Palavras e outros vírus
capítulo 3: 6 000 000 a. C. | A invenção do ser humano / Uma árvore com muitos ramos / Homúnculos, mitocôndrias e outros palavrões
capítulo 4: 2 000 000 a. C. | A origem das línguas / O nascimento das palavras / Elom e ganim: uma língua não chega?
capítulo 5 : 10 000 a. C. | A língua e o território / Quantas línguas há no mundo? / Viagem ao mundo das línguas
capítulo 6: 4500 a. C. | Como era a nossa língua há 6500 anos? / Com pouca corrupção / Uma surpresa escondida na palavra «filho»
capítulo 7: 1 d. C. | Línguas imperiais /História de duas línguas / A invenção das letras
capítulo 8: 1000 d. C. | Do latim à nossa língua / /Uma história em cinco faixas / Palavras trituradas
capítulo 9: 1430 d. C. | Língua à portuguesa / A reinvenção a sul / Alfabeto à portuguesa
capítulo 10: 1757 d. C. | Volta ao mundo em português / Os círculos da língua / Palavras contra a corrente e dentro dos dicionários
capítulo 11: 2021 d. C. | Camões no século xxi / Camões de visita ao presente / Viagem a uma língua exótica
capítulo 12: 2572 d. C. | Os Lusíadas traduzidos para português / A tradutora de português / As línguas a várias cores.