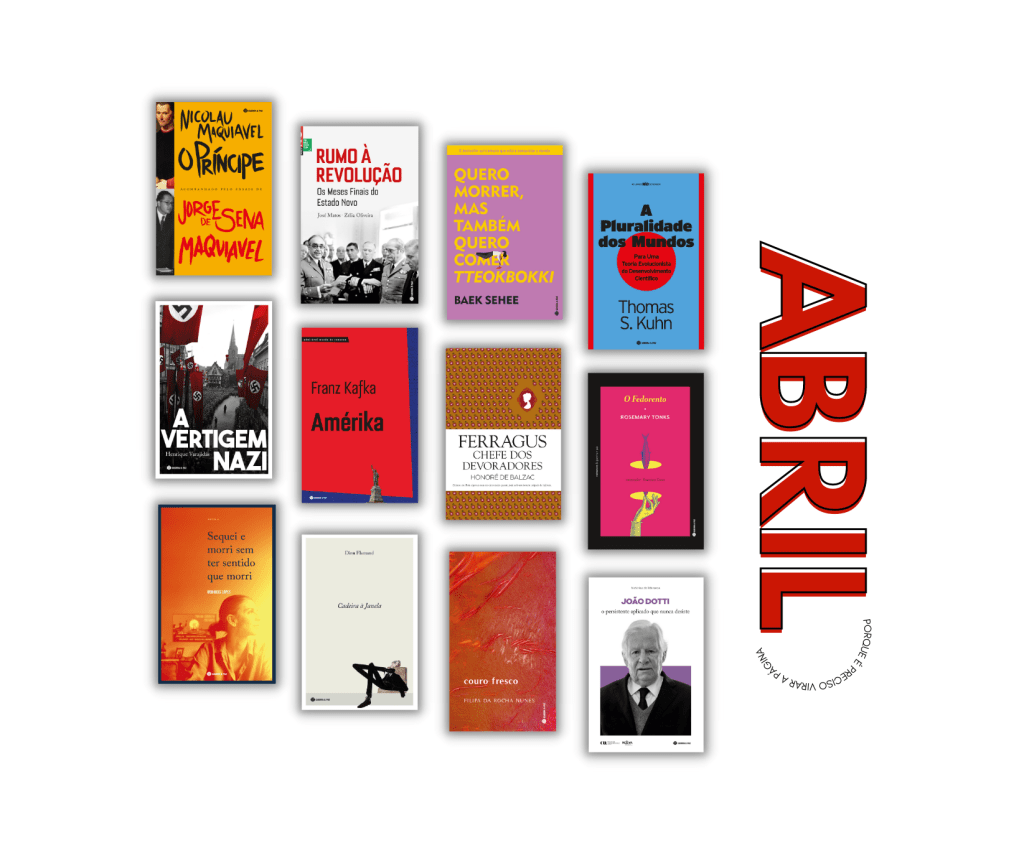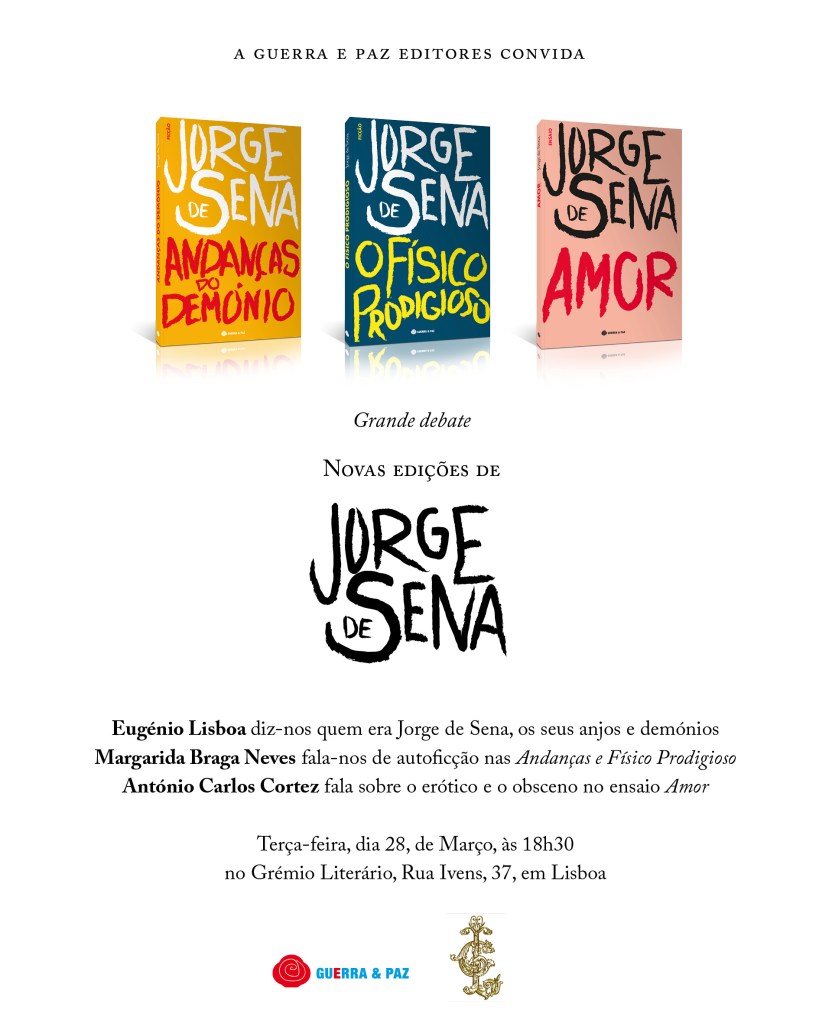Uma coisa é o amigo vivo, outra coisa, o amigo morto. O amigo vivo está aí, mas mesmo que não esteja hoje, estará amanhã. O diabo é o amigo morto. Há quantos anos não ouço a alegria frívola do amigo morto? Pior, há quantos anos não grito ao amigo morto a minha própria alegria fútil?
Por falar em gritar, o meu amigo Manuel Cintra Ferreira, crítico de cinema no Expresso e no Público, meu companheiro na Cinemateca e na SIC, era surdíssimo, de uma surdez implacável, mas fina. Ouvia tudo o que eu lhe dizia, lendo-me as palavras nos lábios: elas ainda não tinham saído e já ele as tinha ouvido. Contou-me, se calhar num dos Natais em que ceou em minha casa, que no Verão Quente da revolução, os pê cês o queriam doutrinar, roubando-o à UDP a que se acomodara. Era em Campo de Ourique, e vinham à Tentadora, a querer revelar-lhe a vermelhíssima e soviética verdade. O Manel usava um aparelho. Mas à mesa da Tentadora, mal os via aparecer, desligava logo o “casa sonatone”. Acenando com a cabeça, viajava pelo seu mundo cinéfilo e mágico enquanto “eles” peroravam. Quando se iam embora, despedia-os com um “adeus, vou pensar, camaradas”. Ele, que não tinha feito outra coisa, perante aquelas cabeças falantes, sem som.
E do Luís de Pina, que saudades da alegria frívola desse director da Cinemateca. Lembro-me: tinha uma namorada descontraída e despreconceituosa, que, em vez do “até à próxima”, se despedia de nós, desengraçados intelectuais fundamentalistas, com um escandaloso e nortenho “até à próstata”. O Luís era do Boavista e tinha um amigo fanático que ia até aos treinos. Um dia, num jogo da Taça, um jogador da 3.ª divisão marcou dois golos ao Boavista. Logo o contrataram. Era uma nulidade. Nos treinos, o amigo fanático corria na bancada atrás do jogador falhado, a gritar, “anda, monte, anda monte”. O jogador vinha defender, ele recuava também, “anda monte”. E tudo isto dito com sotaque do Porto, carago, até que outro boavisteiro, interpela o amigo do Luís: “Ó senhor, o homem tem nome. Agora, monte, monte! Monte de quê, senhor!” E o amigo do Luís: “Monte de merda, que é o que ele é.”
E saudades das altas calinadas do João Bénard. A um jantar, sentado à mesa no Papaçorda, à espera da Isabelle Hupert, julga tê-la visto entrar e vai para ela, sem ver que era a mulher de uma diplomata português, “Mais quelle honneur, Isabelle, soyez la bienvenu”. A senhora, portuguesíssima, responde-lhe: “Que disparate, João, o que é que lhe deu!”. E ele, sem desarmar e ainda a sonhar que ela era a Huppert: “Et en plus vous parlez portugais!”
E, sem me esquecer do António Escudeiro, do Alface e do Dinis Machado, lembro-os a todos nesta história do Pedro Bandeira Freire, que eu e o António Setúbal, de tanta falta ele nos fazer, continuamos a celebrar em jantar mensal. O Pedro estava em Cannes e guiava um carro tão descapotável como ele. Saía do estacionamento do Palácio do Festival. Não sabia era, nesse aventuroso tempo sem gps, por onde sair. E parou. Atrás dele outro carro. E o Pedro, a coçar a calvície, a pensar. O condutor de trás, apressado, furioso, grita-lhe em sonoro português: “Cabrão do careca, tira-me o calhambeque da frente!” O Pedro, com a seráfica calma de São Francisco, sai do carro, vai ter com o outro, e pondo aquele sorriso que lhe encheu a cama de amores, diz: “Amigo, cabrão, sim, de certeza; mas careca, eu?” O outro, desarmado, “O senhor desculpe, não sabia que era português, pensava que fosse o cabrão de um francês!”
Ah, a frívola alegria dos meus amigos mortos!
Publicado no Jornal de Negócios