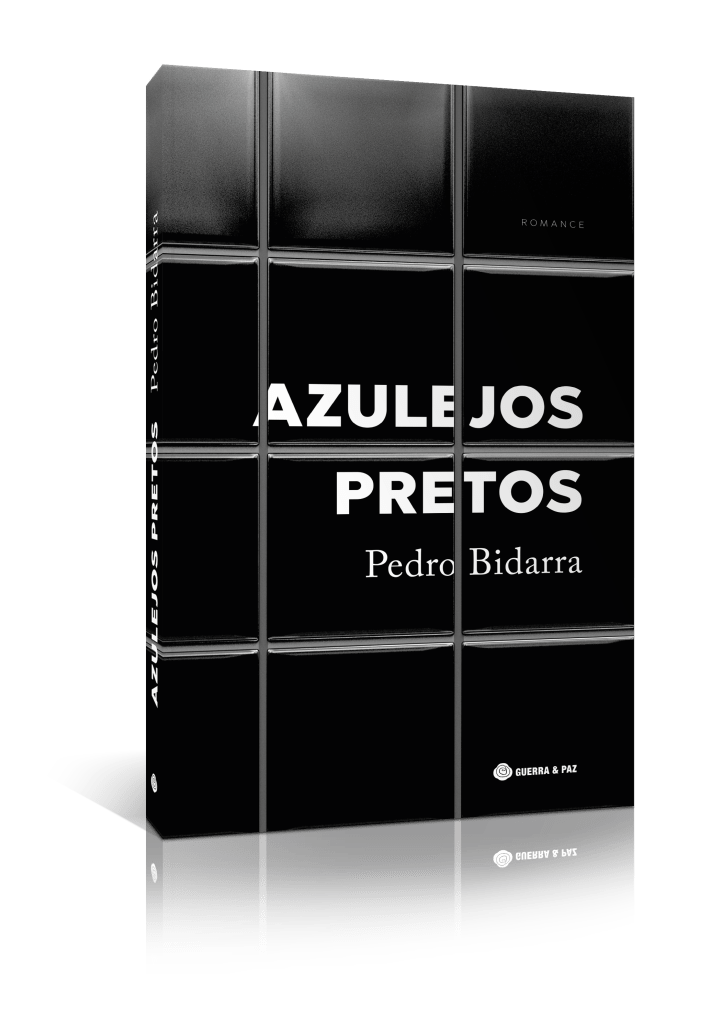Sendo embora Churchill, nesse manso ano de 1909 ainda Churchill não era Churchill. Ninguém, na estação ferroviária de Bristol adivinhava, aliás, o frenético e bárbaro século em que, a comunismo e nazismo, se converteria o século XX. E repito, o ano era manso, manso o comboio, manso o passo que tirou o ministro Churchill da carruagem para o cais, mansa a comitiva municipal que o esperava.
Ora, eis que, na gare de Bristol, a voz do futuro rasga a mansidão de 1909. É uma voz de mulher. É uma voz e um relâmpago: já está em frente a Churchill e, “toma, seu bruto! toma, seu bruto!”, chicoteia-o com a sua indignada força feminina. O chicote apanha o chapéu alto do cavalheiro, roça-lhe a face num beijo mordido, que minutos depois há de ser um indelével vinco rubro na pele pálida e leitosa do jovem ministro.
Já a mulher levanta segunda vez o chicote. Mas já Churchill desperta também da sua letárgica mansidão de 1909, antecipando o homem que há de ser em 1940. Segura o punho da mulher revoltada e torce-o até que ela largue o fino látego. A mulher, chapéu de viúva alegre, juram os jornais da época, ainda grita, só que os atarantados polícias recuperam a sua violada e vexada autoridade e arrastam-na para fora da estação. E peço dez segundos de atenção aos vossos olhos. Vejam: Churchill vai enfiar o chicote no bolso do casaco – já enfiou. Viram?
Descruzam-se as vidas da mulher e de Churchill. Na esquadra, recusa identificar-se, mas depressa a lesta vigilância patriarcal reconhece nela Theresa Garnett, singular militante sufragista. O jovem Winston dirá que ela é só uma “dessas mulheres tontas”, mas no Cronston Hall, onde ele fala nessa noite, uma pedra partirá a vidraça da ampla fachada e dois homens, depois retirados à bruta da sala, cadeiras pelo ar e uma plateia em apupos, far-lhe-ão perguntas que mostram a Churchill que talvez tenha de acertar o relógio pelo relógio do século. Perguntam-lhe: como pode ter mulheres na prisão há seis meses por oposição política? Por que não dá, o governo liberal, o voto às mulheres?
O que outros séculos tinham insinuado, o século XX exigia: a casa da democracia, se não queria ter telhados de vidro, precisava que nela se sentasse a mulher. Acredito, por isso, que Theresa Garnett, no idealismo exclamativo dos seus 21 anos, quando quis chicotear o intransigente Churchill, tenha gritado, já com a voz a acariciar a posteridade, e como outro jornal relatou, esta frase mais nobre: “Toma, em nome das mulheres inglesas que insultaste!”
Churchill, dir-me-ão se por nobreza ou condescendência, recusa depor acusação: bastou-lhe o gesto simbólico de meter o chicote de Theresa no seu bolso de ministro dos assuntos internos. As autoridades acusam-na de perturbação da ordem pública: um mês de prisão, determina o juiz, ao que Theresa responde com greve de fome. Não era a primeira vez. Meses antes, comemorava-se o aniversário de Sua Majestade, o rei Eduardo VII, e Theresa infiltrou, com marido e vestido emprestados, uma fina recepção oficial. Logo desatinou num discurso arrebatado até ser, digamos, levada em ombros para o esplêndido olho da rua.
Theresa abandonará a militância activa quando as sufragistas iniciam uma campanha secreta de incêndios e pegam fogo à casa do ministro das finanças, mas estará na frente de combate, em França, na I Guerra, como enfermeira. Será condecorada por galante e distinto serviço no terreno. Esse heroísmo das mulheres, na retaguarda e na frente, foi a passadeira vermelha para a igualdade de voto, que ganharão a seguir.
Publicado no Jornal de Negócios