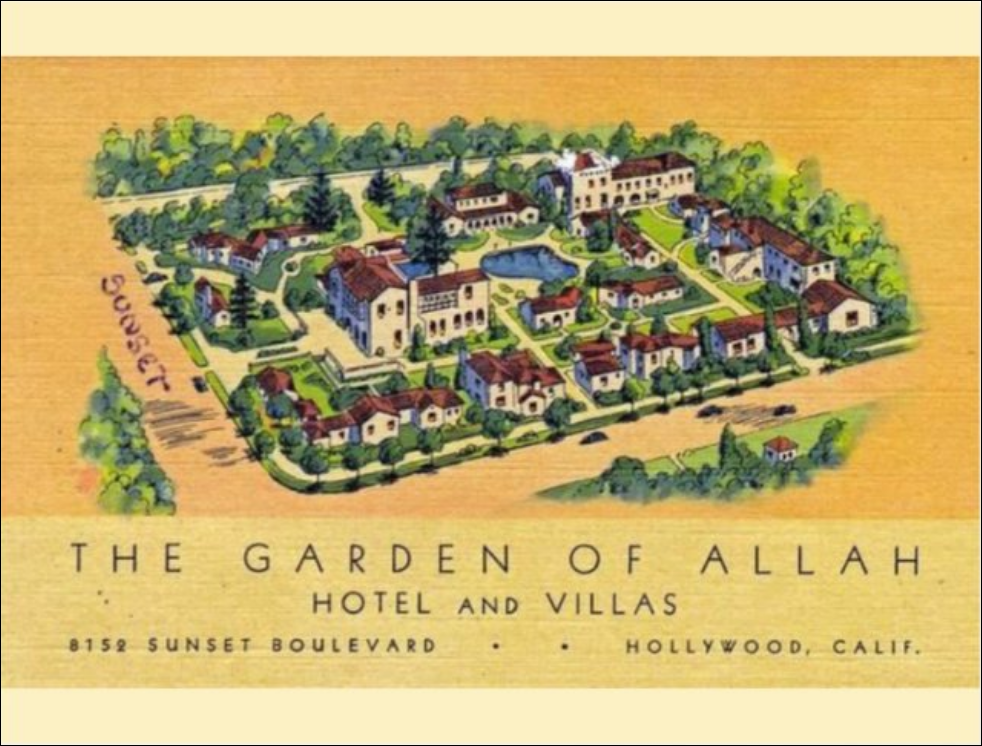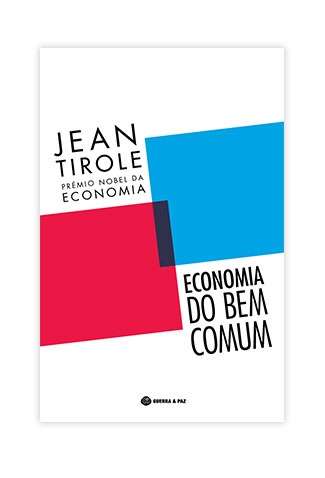Hoje, damos a palavra a Eugénio Lisboa, poeta e ensaísta. Escreveu este texto no Rerum Natura. Aqui o reproduzimos com a devida vénia.

UMA BELA SURPRESA POÉTICA: ROUPÃO AZUL
por Eugénio Lisboa
Este livro de poesia, singularmente intitulado ROUPÃO AZUL– o que logo indicia uma invulgar temeridade da parte da autora, ao trazer, com evidência, para o universo da poesia, a materialidade, em princípio, pouco “poética”, de um roupão de trazer por casa – acaba de ser galardoado com o Prémio Glória de Sant’Anna, criado em homenagem à notabilíssima poetisa que amou e cantou o mar – a água – de Pemba, no norte de Moçambique.
ROUPÃO AZUL é uma obra, a vários títulos, notável, não me parecendo, pois, difícil de aceitar que tenha sido escolhida, entre outras de autores mais conhecidos, visto ser este o primeiro livro da autora.
Os poetas, embora tenham poderes limitados, quando se trata de salvar o mundo, têm poderes inesperados, quando se trata de dilatá-lo e enriquecê-lo pela força imperiosa da imaginação e pela manipulação inovadora das palavras. Segundo Jean Cocteau, os poetas até têm a capacidade de se lembrarem do futuro, isto é, de terem já criado o que ainda não existe.
ROUPÃO AZUL interpela-nos com decisão e vigor, glosando uma singular relação entre filha e pai, por via de uma escrita serena e neutra, quase ausente, em fulgurante contraste com o que a análise daquela relação nos desvela. Fala das coisas mais dolorosas e delicadas numa linguagem tranquila, que se não deixa encrespar nem mesmo pela revelação mais dilacerante. Faz-nos regressar a Valéry, quando dizia que “a elegância é a arte de não se fazer notar aliada ao cuidado subtil de se deixar distinguir”. É o que mais nos assalta, neste belíssimo primeiro livro,: uma deliberada fuga à ênfase da escrita, para melhor desvelar a intensidade do sentido: falar menos para dizer mais. Ou, por outras palavras: o “menos” como catapulta eficaz do “mais”. Uma escrita despojada de artifícios, de buzinas, de metáforas ostensivas, quase pacífica, sem gritos nem demasiados desvelos, ao serviço altamente produtivo de uma sondagem de grande amperagem e dolorosa claridade. Estou portanto a insinuar uma grande nobreza de dicção, um enorme pudor que, nem por ser pudor, receia entregar-nos as descobertas mais perturbantes. Uma arte que recusa a ênfase para nos poder dar um máximo de intensidade. Por outras palavras: o melhor do classicismo ao serviço da mais genuína modernidade.
Diante de uma primeira obra desta qualidade e desta ousadia, que se não exibe mas está lá, fica-se numa justificada expectativa quanto a obras futuras desta autora, de que aqui dizemos o nome, para que conste: Ana Paula Jardim.
Parabéns ao júri que, em boa hora, assinalou este belo livro, e à editora Guerra & Paz, que teve a ousadia de a publicar em tempos recessivos de pandemia. A poesia também serve para nos proteger e surpreender e encantar, quando, lá fora, um inimigo implacável nos cerca e nos ameaça. Aliarmo-nos à poesia e vivermos com ela é um modo galhardo de resistirmos. Talvez o melhor, o mais eficaz e o menos dispendioso. Além de que, lendo-a, nos estamos também a ler a nós próprios. Em especial, quando ela se acolhe em livros com a força esbelta e bem vigiada deste admirável ROUPÃO AZUL.