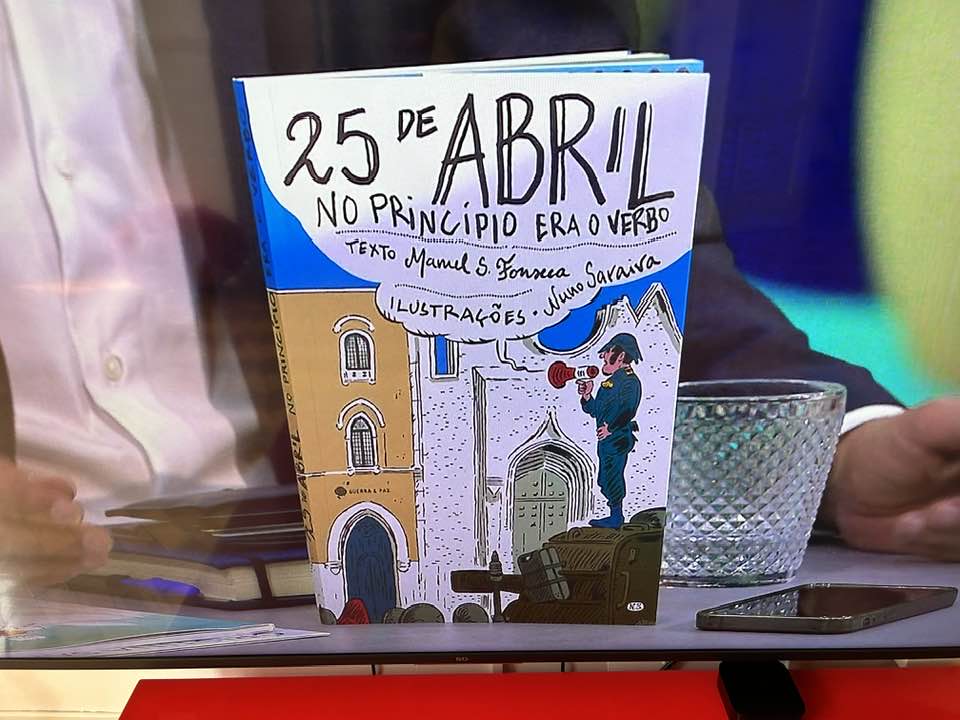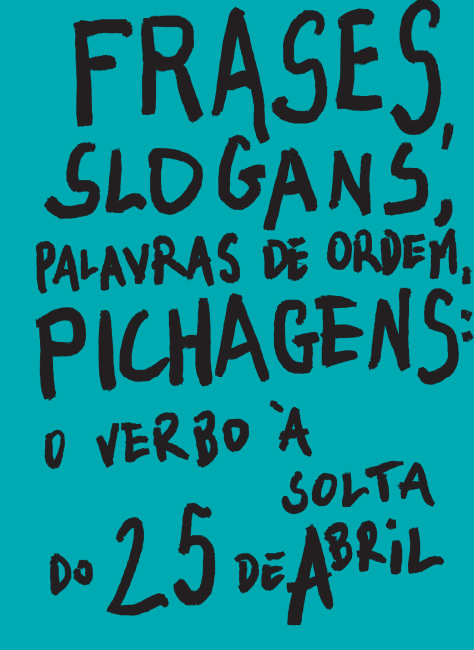Vamos lá a ver: como é que se faz um filme e quem é que faz um filme? Dou como exemplo essa gigantesca obra-prima chamada The Searchers, a que em Portugal se chamou A Desaparecida. O filme, um western, é de um tal John Ford, camoniano de pala no olho, mestre entre os mestres, mas intratável no dia a dia.
As filmagens de A Desaparecida era, e deixem que a prosa se me arraste para o chinelo, uma cambada de gajos, um acampamento ecuménico de escuteiros, cow-boys e índios, mexicanos e americanos.
Ford filmava as cenas de fuga e perseguição de cavalos e cavaleiros com a câmara em cima das mesmas carrinhas americanas, Ford e Chevrolet, em que eu andei, atrás, na caixa aberta, de monangambé, na minha Luanda colonial.
Um dia, John Wayne, que no filme era Ethan, o protagonista, passou por uma tenda e viu num choro convulso Beulah Archuletta, a actriz índia cuja personagem se casa, num cómico acidente, com o sobrinho de Ethan. Ela contou-lhe que o seu filho, o da vida real, se ia mesmo casar, mas que não poderia assistir à cerimónia por ter filmagens. Comovido, Wayne, conseguiu dar a volta a Ford: suspenderam-se as filmagens e o putativo racista Wayne levou-a, de Monument Valley, no seu avião, ao casamento na Califórnia. Os índios passaram a chamar-lhe “O Homem da Grande Águia”.
Não foi neste filme, foi em Mogambo, mas também tenho direito a aldrabar um bocadinho: um dia veio um produtor atazanar a mona a John Ford, dizendo que ele estava atrasado três dias nas filmagens. E, ai, o meu dinheirinho, como é que é? O senhor Ford julga que isto é subsidiado pelo governo de Portugal ou quê?!
Ford deve ter mudado a pala do olho direito para o esquerdo, que foi a forma de nem ver o patético contabilista ou lá quem era.
Agarrou no guião, no script, contou, uma, duas, três, quatro páginas, rasgou-as e virou-se para o patrãozinho: “Prontos. Já estamos dentro do prazo outra vez.” E, nesse filme, Ford não filmou mesmo as cenas que rasgou do script, prova insofismável de que nenhum filme confirma ou desmente a sua própria história, antes pelo contrário.
Na Desaparecida, e foi mesmo na Desaparecida, Ford foi mordido por um escorpião e levaram-no, de aflitos, para dentro de uma tenda. E lá voltou o senhor da massa num desespero de Scrooge, “e se o Mestre morre, que é que a gente faz? Temos aqui enfiada uma pipa de dólares”. John Wayne ofereceu-se para ir ao improvisado hospital ver o que se passava com Ford. Foi, viu. Lá volta ele, naquele passo bêbado, e diz: “Tá tudo bem, o homem está fixe. Quem morreu foi o escorpião.”
É esta a massa de que se fazem os filmes. Os melhores.
Publicado no Jornal de Negócios, no suplemento Weekend