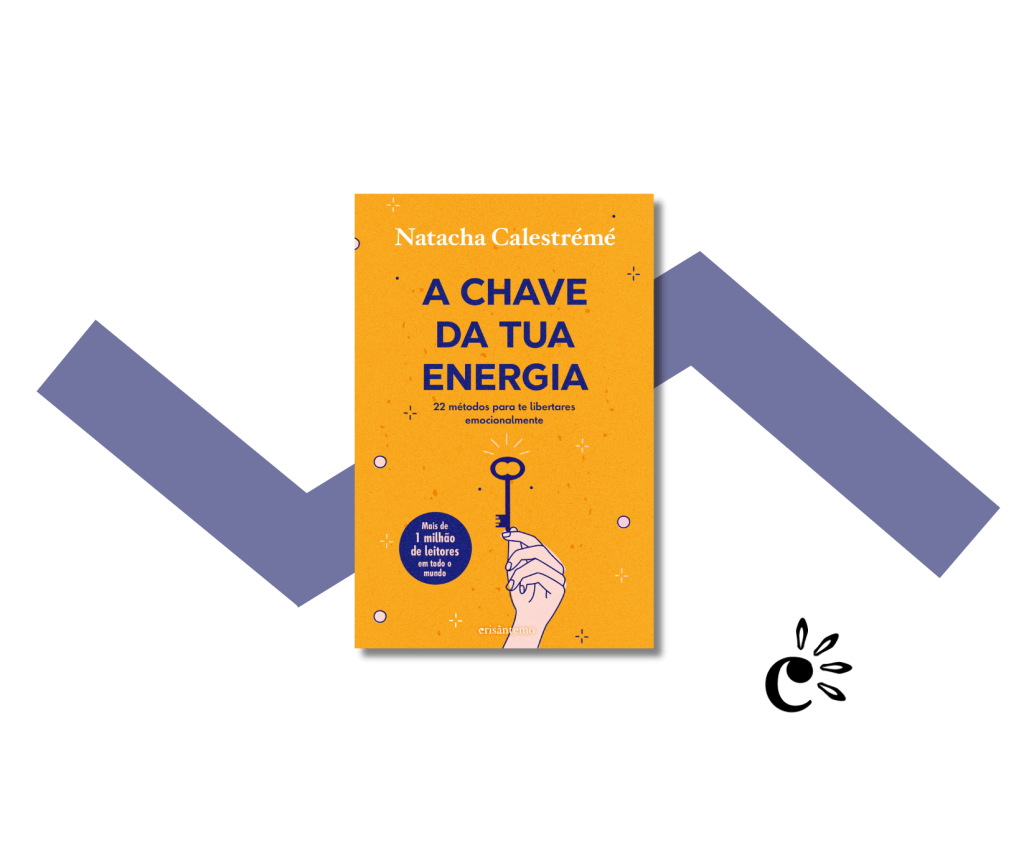Um metro e meio basta para pôr o mundo arder. Olhem para Elizabeth Taylor. Por esse metro e meio, de uma geografia alcantilada, diga-se, incendiaram-se corações, mentes e corpos. O pobre Richard Burton, que estava a menos de um dedo do 1,80, tinha todos os centímetros em fogo quando via essa pequena Liz. Pior, ainda mais quando a não via.
Liz Taylor não foi caso único. O metro e cinquenta e dois de Joana d’Arc pareceu gigantesco aos franceses guerreiros que queriam expulsar os ingleses invasores. Baixinhas como ela foram Cleópatra e a Rainha Victoria, o que não as impediu de terem o mundo a seus pés.
E deixem que me meta entre as mulheres. Eu tinha então uns 11 anos cambutinhas, como em Luanda se chamava a gente de baixa estatura, e temia a minha profe de matemática, Maria de Lurdes, a quem, à boca calada, chamávamos Joana Bocarra. Vejam-na a entrar na sala de aula. Levantámo-nos como uma mola, bom dia sô tora, tal qual ordenava o ritual do Salvador Correia, o mais belo liceu do mundo. A sô tora olha para a sala, eu lá bem atrás, para fugir a humilhantes chamadas ao quadro, e ela grita: “O menino lá ao fundo, porque é que está sentado? Levante-se!” O menino lá ao fundo era eu e estava tão de pé quanto podia estar, com o meu 1,64, que tomara a Liz Taylor e a Joana d’Arc. Ganhei a solidariedade da turma, de que passei a ser a mascote.
Baixinhos, cambutinhas eram actores como Charlie Chaplin, Woody Allen, Al Pacino, Richard Dreyfuss. Tom Cruise, que vi, olhos nos olhos, numa ante-estreia num cinema da Wilshire Boulevard, é mais baixo do que todas as mulheres dele, mesmo que elas descalcem os sapatinhos de salto alto.
Billy Cristal é outro dos short guys, o que não o impediu, sem para isso mexer uma palha, de arrancar e se maravilhar com o ultra-exuberante orgasmo de Meg Ryan, uma sinfonia expletiva e enfática num prosaico McDonald (?), pequeno monumento gutural, que podem visitar revendo o filmezinho que se chama “When Harry Met Sally”.
Os atributos do cambuta não são apenas os talentos de actor. Os baixinhos podem ver-se contaminados pela sede de poder. Napoleão Bonaparte tinha menos de um 1,70, Churchill a mesma coisa. Alexandre, o Grande, Benito Mussolini, o imparável Berlusconi eram da minha altura e Estaline tinha só mais um centímetro, tal como Lenine.
Franco, o ditador espanhol, com o seu 1,62, era metade de Salazar, e outro metro e sessenta e dois, o de Ghandi, semi-nu, pouco mais de uma tanga, mudou o mundo, derrubando com fragor o Império britânico. Deng Xiao-Ping, o maoista que livrou a China do maoismo dizendo aos chineses que enriquecer era coisa boa, era cambutíssimo, menos de um 1,50. Era, digamos, o Danny De Vito da política mundial.
Com o devido respeito por Lincoln, De Gaulle e mesmo Bin Laden, todos acima de 1,90, nenhum deles tem o charme, mesmo que por vezes tintado de odioso, dos meus heróis baixinhos.
Tinha muita vontade de falar de Ava Gardner, que era uma mulheraça de 1,68, mas dir-se-ia não ser desta história. E lembrei-me que a primeira vez que dormiu com um homem, foi com Mickey Rooney, que media um rasteirinho 1,57. Vestido, era 1,57 de energia, gags e gargalhadas. Despido, diz Ava, “corta uma mulher ao meio, como faca quente a mousse de chocolate”. Lana Turner, a melhor amiga de Ava, que dormira (se assim se pode dizer) com ele antes, e por ele ter incarnado a mesma personagem, Andy Hardy, em vários filmes, chamava-lhe o “Andy Hard-on”, rija delícia da língua inglesa que não traduzirei, deixando-vos com a mousse de Ava.
Publicado no Jornal de Negócios