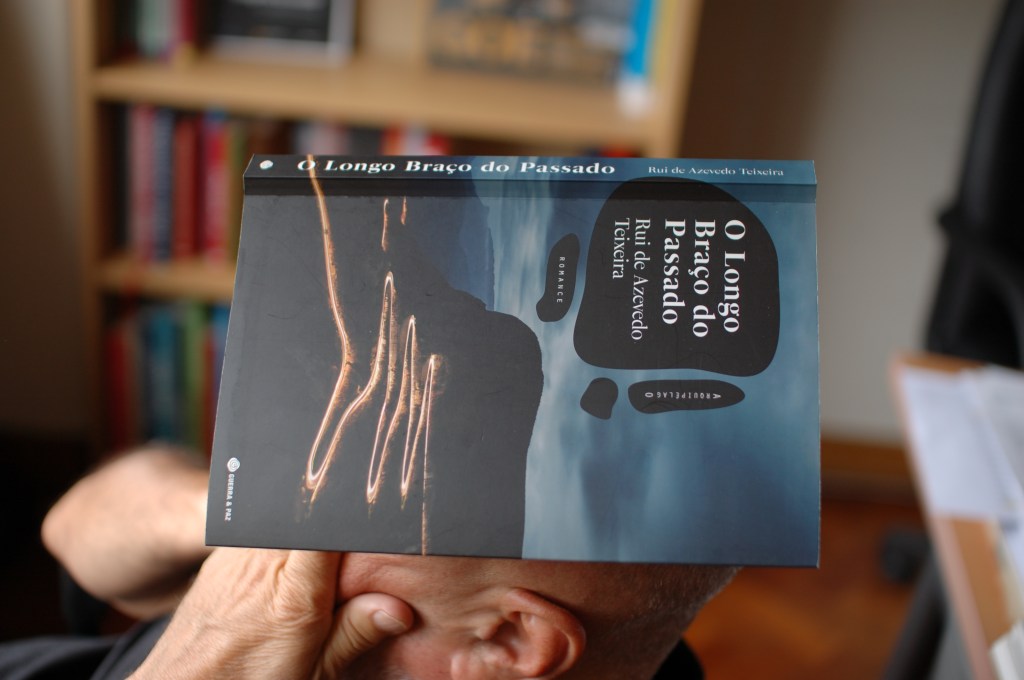Esta é uma crónica familiar que devo à bravura ímpar da minha primeira sobrinha e à inocência, impar também, da minha segunda sobrinha.
Sim, pode. Pode morar-se no Apocalipse, digo eu que já lá morei. Havia quatro anjos a segurar os quatro ventos da Terra, para que nem uma brisa perturbasse os cavaleiros da peste, e dos pés dos anjos saíam colunas de lume e as suas bocas exalavam fogo, fumo e enxofre. E talvez eu, na minha boa-fé, estivesse confundido, talvez fossem só os Migs céleres a segurar os quatro ventos de Angola, a pequena boca de fogo do singelo monacaxito e as estrondosas crateras de enxofre e fumo dos órgãos de Estaline.
Mas essas são as minhas memórias da guerra civil de Angola, problema que eu ainda estou e morrerei com ele. Quem também lá esteve foi a minha primeira sobrinha, filha da minha irmã. Teria então três anos, se tanto, e sabia lançar-se ao solo como um comando, quando as Akás começavam a tricotar e a cantar o Kalinka, Kalinka. Oyé, mangolé.
Quando, sobrevivente a obuses e morteiros, a G3 e Kalashes, a minha primeira sobrinha retornou, blusinhas leves tropicais, todas seda e terylene, espantava as feiras, os andores dos santos e as romarias lusíadas ao lançar-se ao solo, em impecável estilo, logo que começavam a crepitar foguetes. Era o comando mais bonito que Portugal conheceu.
E falo agora da minha segunda sobrinha, filha dos meus cunhados por parte da Antónia, minha mulher, a que meio Bairro Azul insiste em chamar “menina Antónia”, o que me deixa, atendendo à minha já branca e provecta barba, na desconfortável posição de suspeito de inconfessável e tirânico rapto e abuso.
Ora não era da menina Antónia, mas sim da minha segunda sobrinha que eu queria falar, para dizer que nunca esta sobrinha, ao contrário da primeira, tinha roçado o seu pequenino ombro, nem mesmo em forma inadvertida, pelo apocalipse.
Vinha ela, seis aninhos, mão na mão com a mamã, quando, no hall de entrada mesmo ao lado dos elevadores, se lhes dirigem duas simpáticas senhoras, com aquela simpatia de ventre amargo que recusa provar o mel. Traziam na mão uns sub-reptícios folhetos e logo ali, na placidez interclassista de Benfica, lhes dizem “bom dia”, e sem parar garantem “que vem aí o Apocalipse”. E explicam, com uma brevidade que João de Patmos não se autorizou, o que é o apocalipse, esse fim do mundo em que Deus Vosso Senhor corta a direito, com fogos do inferno à mistura. “Estamos aqui para vos alertar e salvar”, juram.
Tremem as perninhas de bailarina da minha sobrinha? Não, não, nem pensar, como agora diz o meu primeiro neto. Os olhos na mãe, a minha segunda sobrinha observa cada reacção e o que vê? Uma mãe serena, impávida. Uma mãe que não morde, nem sopra. E julgo que escapou aos seis aninhos da minha sobrinha o leve trejeito irónico que aflorou os lábios dessa mãe que desmedidamente a enche todos os dias e todas as noites de beijos.
E as duas velhas senhoras, de trombetas na boca, continuam a encher de música tonitruante o átrio, mesmo ao lado dos dois elevadores: “Vem aí o apocalipse. É o fim do mundo: amanhã, se não for já hoje. Está um fim do mundo a levantar-se das campas do cemitério aqui ao lado. E nós estamos aqui para vos avisar e para vos salvar!”
Serpentes, bestas e chifres insinuam-se por Benfica, mas a minha cunhada, com recato, escapa a tudo e entra no elevador já só com a minha sobrinha pela mão, talvez um folheto na outra. A serenidade da mãe comunicou-se à filha. E, num módico de exemplar reflexão, a menininha vira-se para a mãe e diz-lhe: “Já viste, mãe, tanta gente no mundo, e estas senhoras escolheram-nos a nós para nos salvar. A sorte que nós tivemos, mãe!”