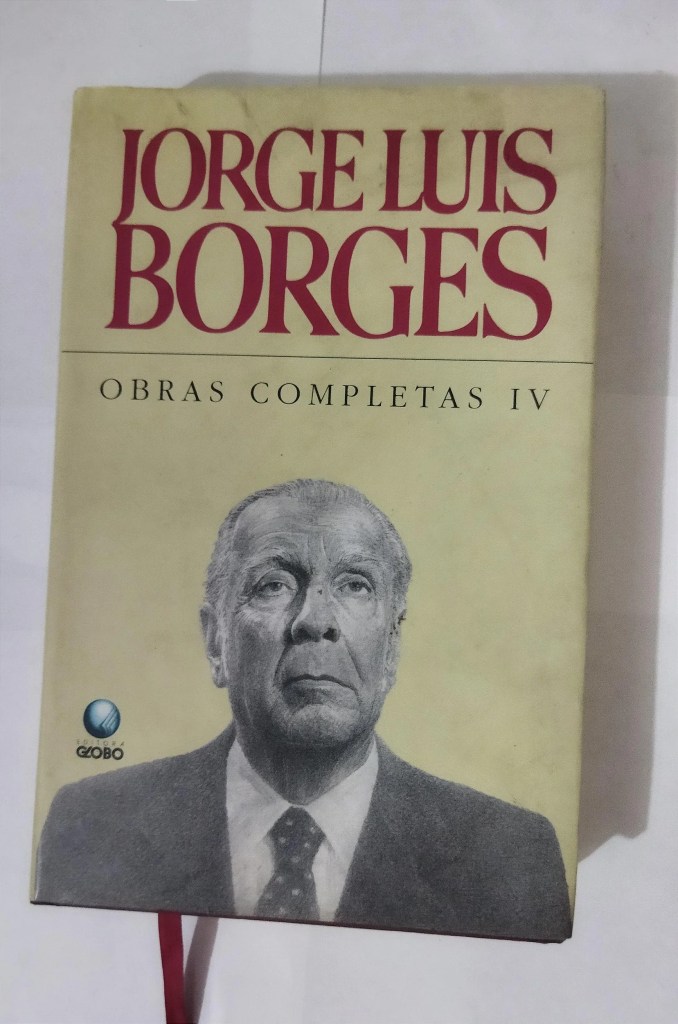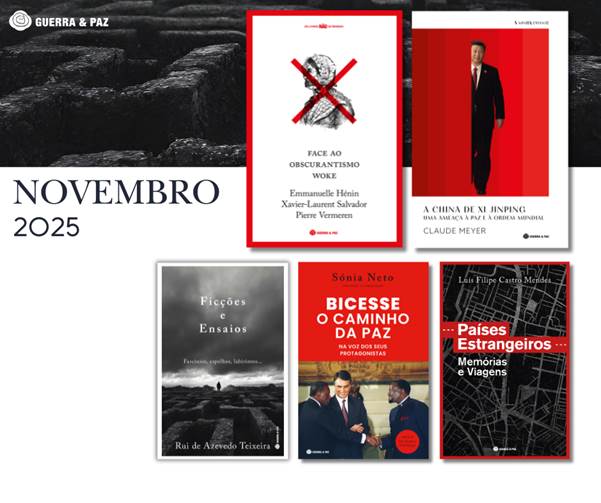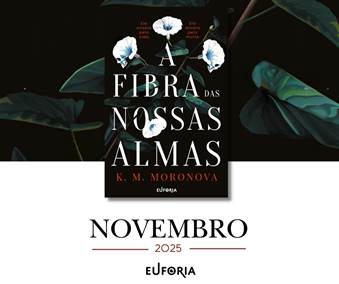Talvez o homem seja o mais desacompanhado de todos os animais. Mas subo já a parada: não houve, na história da humanidade, homem mais desacompanhado do que o ultratrilionário Howard Hughes.
Tinha eu 15 anos, deambulava a minha dengosa pobreza remediada pelas ruas da cidade de Luanda, e lembro-me do meu preclaro mentor e barbeiro Mário Prazeres me contar a história de outro barbeiro, de uma vilória alentejana, «lá em Portugal», que não só a si mesmo se desacompanhava, como desacompanhava a própria mulher. Tinha pelo sexo menos interesse do que qualquer um de nós por avencas incandescentes.
Era o que a mulher, com a tristeza de um lenço verde a cobrir-lhe o cabelo, contava a quem lhe oferecesse um dedo de ouvido de atenção que fosse. «Mas – julgo que foi o meu amigo Mário a interpelá-la – a senhora tem dois filhos. Não me diga, senhora do lenço verde, que não são dele.» E ela num resignado arrebatamento: «São dele, são, menino Mário. Mas a canseira que eu tive para que ele mos fizesse!»
Howard Hughes não precisava de se cansar. Morreu-lhe cedo o pai e ainda não tinha 20 anos caiu-lhe nas mãos uma herança analfabeta. Veio para Hollywood com uma mulher tão nova como ele. Depressa se divorciou e deu-lhe para fazer duas coisas: aviões e filmes. Eram a sua paixão. A que se juntava uma febril necessidade de companhia feminina.
Eu peço aos leitores que olhem para o Howard dos anos 20. Era bonito, alto, porventura pouco articulado e tendencialmente silencioso, mas somava a tudo isso o sex-appeal de uma desvairada fortuna. Um rio de mulheres crepitava aos seus pés e a verdade é que se agarrasse num telefone às quatro da manhã – oh, bem bom – não havia uma actriz que não acorresse a amaciar-lhe a ineludível solidão.
Lana Turner, uma das mais fatais das «femmes fatales» de Hollywood, intérprete da mulher adúltera do primeiro «O carteiro toca sempre duas vezes», uma vida cheia com sete casamentos fora os concubinatos, foi uma das actrizes que lhe atendeu o telefone. Confessou que Howard «era um tipo de quem se gosta por ser agradável, mas não era especialmente estimulante». Julgo que a caligrafia de Lana se percebe com facilidade e ainda mais se a ouvirmos dizer que «Howard sussurrou-me que tinha preferência por sexo oral… e eu disse-lhe que não estava nada interessada e ele não pareceu incomodar-se».
Lana disse-o e essa peça botticelliana de menagerie feminina que foi a actriz Gene Tierney prova-o: Howard gostava de se apresentar em público com a mais loura refulgência de Hollywood, mas no fim da linha apreciava mais as mães do que as filhas que o acompanhavam. Queria era falar horas perdidas com a mãe de Lana e à mãe de Gene encheu-lhe 60 metros quadrados de uma sala com gardénias. «Cheira um bocadinho a morte», disse a velha senhora.
Foi Bette Davis que revelou o segredo de Howard, esforçando-se tanto como a mulher do lenço verde do modesto barbeiro alentejano. Bette era casada e o marido, músico, passava as noites a tocar num hotel nobre de Hollywood. Mas desconfiou e mandou pôr um micro no quarto onde Bette e Howard se encontravam. Ficou numa carrinha ao lado a ouvir e descobriu que Howard tinha um problema ejaculatório – poupo-vos a pormenores. Irrompeu pelo quarto adúltero e ameaçou Howard que o tentou esmurrar, mas falhou. Bette ululava contra o marido. Howard, aterrado com escândalo, pagou-lhe o que era então um Euromilhões de 75 mil dólares. Bette Davis, com a nobreza ríspida que era seu dom, devolveu, dólar a dólar, a miserável chantagem do marido e Howard mergulhou ainda mais na sua surda solidão.