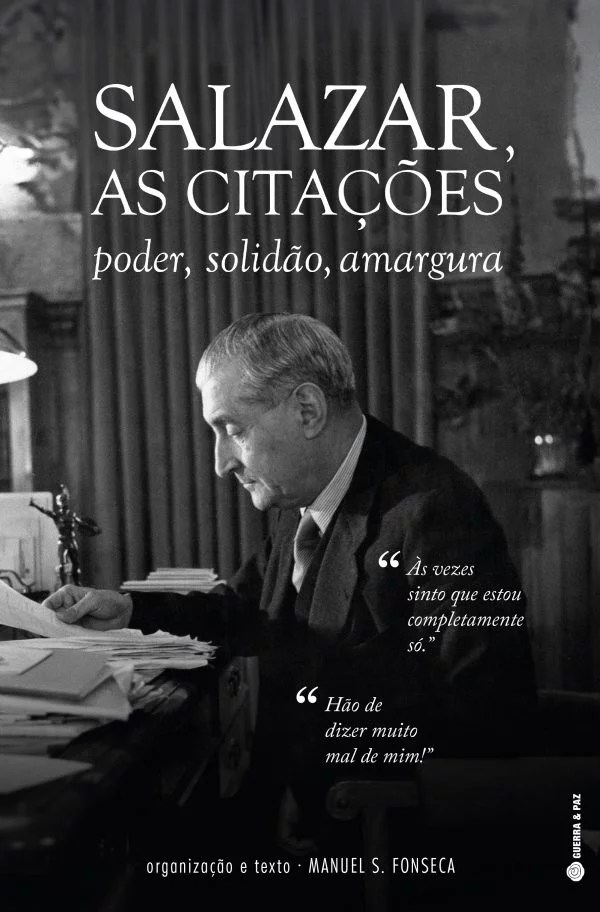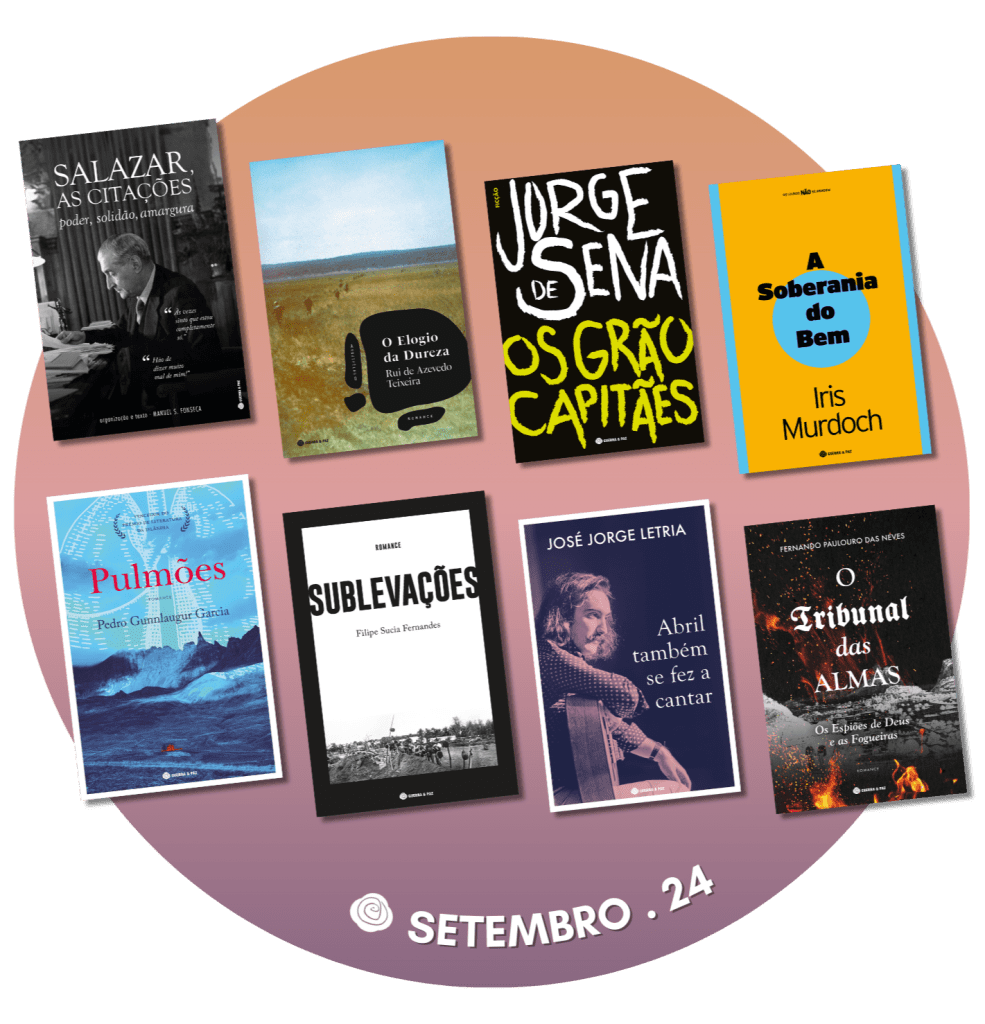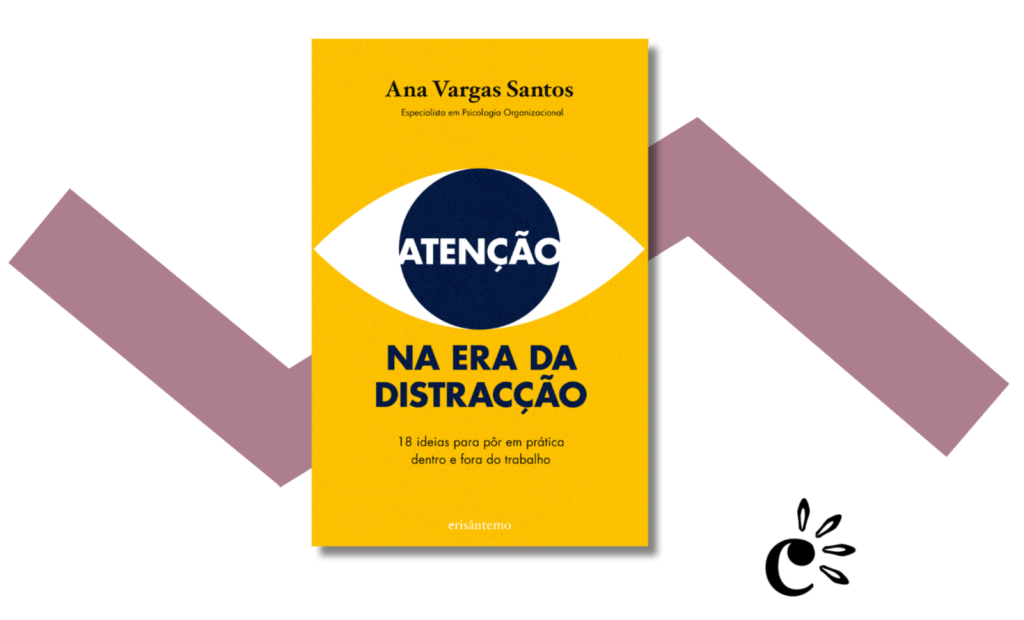O que fazer se não aplaudirmos a bela vida do grande intelectual que foi Paul de Man? Mas vejam, a vida de Paul mudou muito depois da sua morte. Vivo, Paul, belga emigrado para os Estados Unidos, revolucionou os estudos literários pontificando nas universidades de Harvard, Cornell e Yale, o equivalente a Ronaldo jogar no Manchester United e no Real Madrid.
Morreu. Já há quatro anos que Paul de Man descansava em paz, quando lhe tiraram o esqueleto do féretro e os ossos dele passaram a andar de boca em boca. Primeiro, destaparam-lhe o lençol nazi e anti-semita. Afinal Paul, durante a ocupação nazi da Bélgica, não só não fora um resistente, do que na seu curriculo se louvava, como escrevera artigos na Imprensa nazi, com rasteiros ataques aos judeus.
Quem o conheceu jura que ele tinha o charme de uma flute de champanhe, esfusiante e aromático. Foi assim que a progressiva escritora nova-iorquina Mary McCarthy soçobrou, e o marido dela consentiu, sendo esse ménage à trois – delícia civilizacional para um casal americano ter à perna um europeu – o passaporte de Paul para a glória americana. Mary arranjou-lhe um lugar de professor em Bard, mas quando veio visitá-lo, descobriu-o a viver com Patricia, uma estudante. Mary rejeitou-o, mas honra lhe seja, o amor de Paul por Patricia tinha a autenticidade da mais terna cereja do Fundão. Havia um detalhe, pequenino, coisinha para caber entre o polegar e o indicador: Paul era casado e tinha três filhos. Incapaz de os sustentar mandara o lote familiar para a Argentina onde viviam os seus pais, emigrantes. E foi esse embrulho familiar, mulher e três filhos, que Patricia, já bem grávida, viu quando, ao ouvir a campainha, abriu a porta de casa.
Paul habituara-se a saltar barreiras e a bigamia não o intimidou: ousou casar com Patricia. Trafulhice, talvez, mas o casamento foi, diga-se, feliz, fiel, farto, formoso e não sei como continuar a aliterar para louvar o genesíaco paraíso em que Paul e Patricia se banharam.
Paul, porém, era mesmo trafulha. Sabe-o, com inveja, o editor que eu sou: na Bélgica, também Paul quisera ser editor. Arrebanhou, de amigos e nem tanto, o necessário capital: em dois anos publicou um, só um livrinho, locupletando-se com o apetecível capital. Acusado, fugiu para a salvadora América.
Era, portanto, um condenado na Bélgica in absentia a seis anos de prisão que encantava os alunos de Bard. Como encantaria, depois, os alunos de Harvard, da John Hopkins, de Cornell e Yale, esse Olimpo da academia americana. Para isso, falsificara as credenciais: é certo que estudara em Lovaina dois anos, mas a universidade, em protesto contra a ocupação nazi, fechara. Só que no relatório enviado por Lovaina, escrito em “academês”, Paul falsificara, se assim se pode dizer, uma nota manuscrita: “Aprovado no Exame perante o Júri de Estado em 1942”. Era o equivalente a um Mestrado de Artes. Começava assim a carreira académica que introduziria na América o desconstrucionismo de Derrida e toda a panóplia de Barthes e Lyotard. Sim, com competência, tanta que o famoso Derrida, convidado a palestrar, e Paul de Man se tornaram amigos. Um editor que se regala com o dinheiro dos outros, ménage à trois, bigamia, empolgante com os alunos: caramba, é difícil um coração não se derreter com tamanho encanto. “Os princípios morais são o que, nos idiotas, substitui a inteligência”, terá dito um dia Paul, já depois de ver o irmão morrer, a bicicleta trucidada por um comboio, e depois de, aos 16 anos, ter descoberto e recolhido nos seus braços a mãe enforcada. Quem o quer julgar?
Publicado no Weekend, suplemento de 6.ª feira do Jornal de Negócios