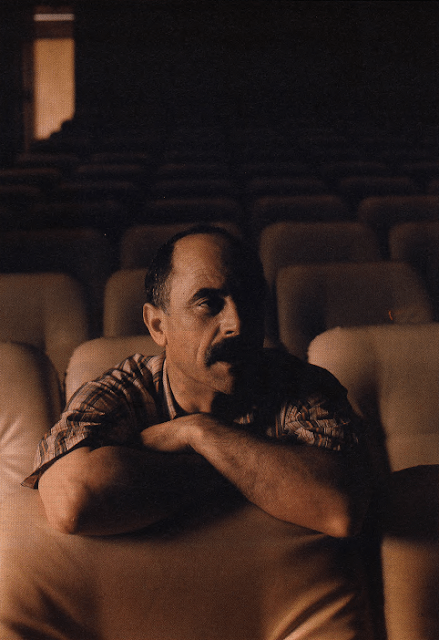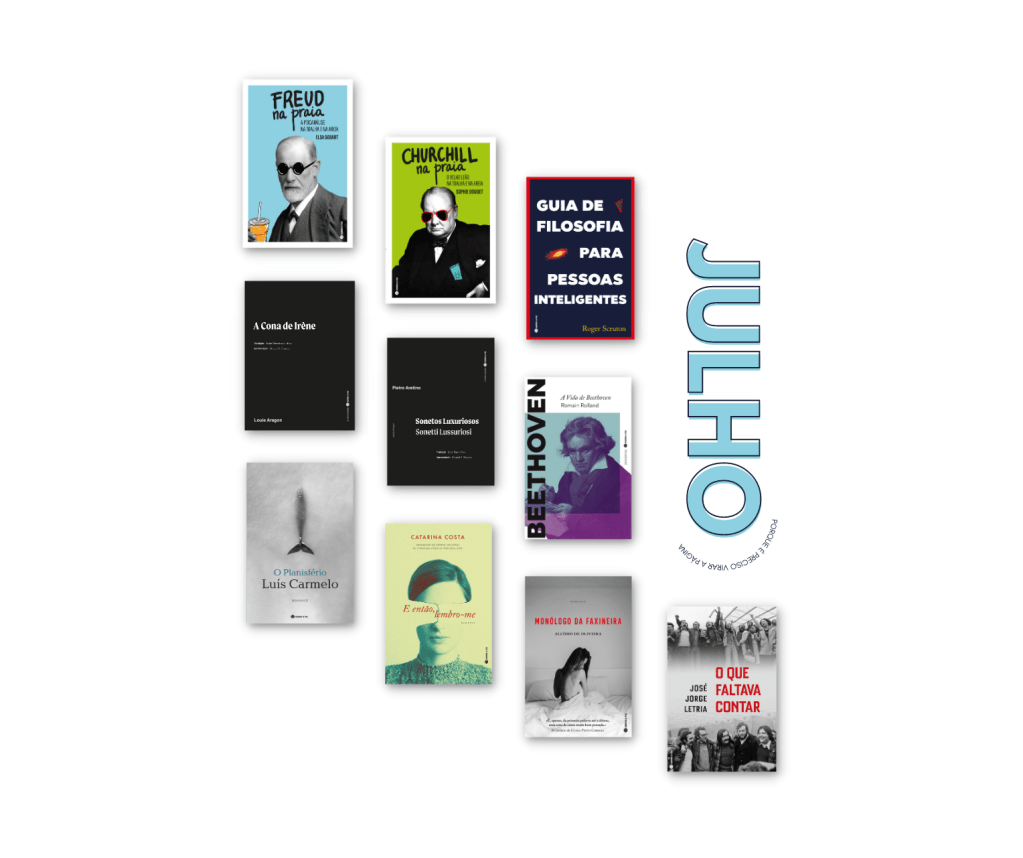Houve uma guerra, é bom que se diga. Eu vou, é certo, falar de paz, da paz gritada, apupada, esfusiante e delirante, que é um jogo de futebol. Não posso é esconder que houve antes uma guerra e que as tropas inglesas da democrática Senhora Tatcher tinham agarrado pelos colarinhos e humilhado as tropas do ditador argentino, o general Videla.
A guerra fora nas Malvinas, mas estava-se agora no Estádio Azteca. O nome do estádio já provoca uma aflição kirkegaardiana: a angústia dos ecos ancestrais do choque de índios e conquistadores ressoava ainda em cada pedra do estádio. E estarem frente a frente, nessa final do Mundial de 1986, no quente mês de Junho, as equipas da Inglaterra e da Argentina, deixa cair sobre esse confronto um épico pingo de “capsaicina”, a substância activa “del chile”, o picante que faz arder “las carnitas” e “los tacos” mexicanos.
No Estádio Azteca, eram duas civilizações que estavam frente a frente. E lembrem-se, o próprio esférico, uma estreia, era uma bola novinha em folha, igualmente chamada Azteca, o nome a acordar os demónios do passado, mas na forma um exemplo de revolução tecnológica, a primeira bola de futebol a dispensar o couro, toda em adricron, um revestimento sintético impermeável, trinta e duas faces hexagonais elegantes, e de uma inquebrantável longevidade. O horror que foi jogar anos com bolas de catechu, a que uma boa chuvada acrescentava meia tonelada: eis o que afogou o mínimo Eusébio que havia em mim, a encharcada e incirculante bola de catechu.
Adiante e vejam, é a nova bola revolucionária que circula entre Shilton e Lineker, entre Valdano e o pequeno deus chamado Diego Maradona. Durante 45 minutos, esses dois mundos ressentidos, a nórdica rosa dos Tudor e o azul ultramarino das pampas, mediram-se, sem se ferir. Mas aos seis minutos da segunda parte, o defesa Steve Hodge tenta aliviar a pressão sobre a sua área: a mal pontapeada bola ganha efeito e cruza a área, Shilton, o guarda-redes, salta com Maradona. O punho de Shilton vai lá acima, a 200 metros de altura, mas o pequeno Maradona, num exercício de prestidigitação, voa 201 metros e a sua cabeça desvia a bola para o fundo das redes. E há aqui um grande imbróglio teológico-anatómico: a cabeça de Maradona ali, a 201 metros de altura, tão perto do céu, foi roubada por um Deus omni-invejoso. Deus, sentindo o homérico jogo de futebol a roçar-lhe os berlindes, quis também jogar e pôs a sua mão onde devia estar a cabeça prodigiosa de Dieguito. Diga-se, àquela bola, toda feita do leve adricron, bastaria, se Deus quisesse, um simples sopro, mas quem não quereria, em 1986, mesmo Deus, sopesar na própria mão a leveza desse revestimento sintético, o poliuretano, à prova de água.
Essa bola, a Azteca do Estádio Azteca de 1986, esteve, até ao ano passado, nas mãos do árbitro tunisino, Ali Bin Nasser, que Deus iludiu naquela jogada disputada nas nuvens. Quis agora o árbitro, sufocado pela insidiosa presença de Deus, descarregar a temível sombra sobre a humanidade. Num leilão, alguém pagou 2,4 milhões de dólares para ter em casa a bola que a mão de Deus tocou. Já pela camisola de Maradona, que ele, no fim do jogo, dera a Hodge, o inglês que fez o involuntário centro, em leilão alguém ofereceu e pagou mais de 9 milhões, a mais cara camisola de futebol de sempre.
Onde está, pergunto eu, a bola que a mão de Vata meteu na baliza do Olympique de Marseille, no jogo que estes meus olhos viram e que levou o Benfica à final da Liga dos Campeões? O que eu não pagaria por ela em leilão!
Publicado no Jornal de Negócios