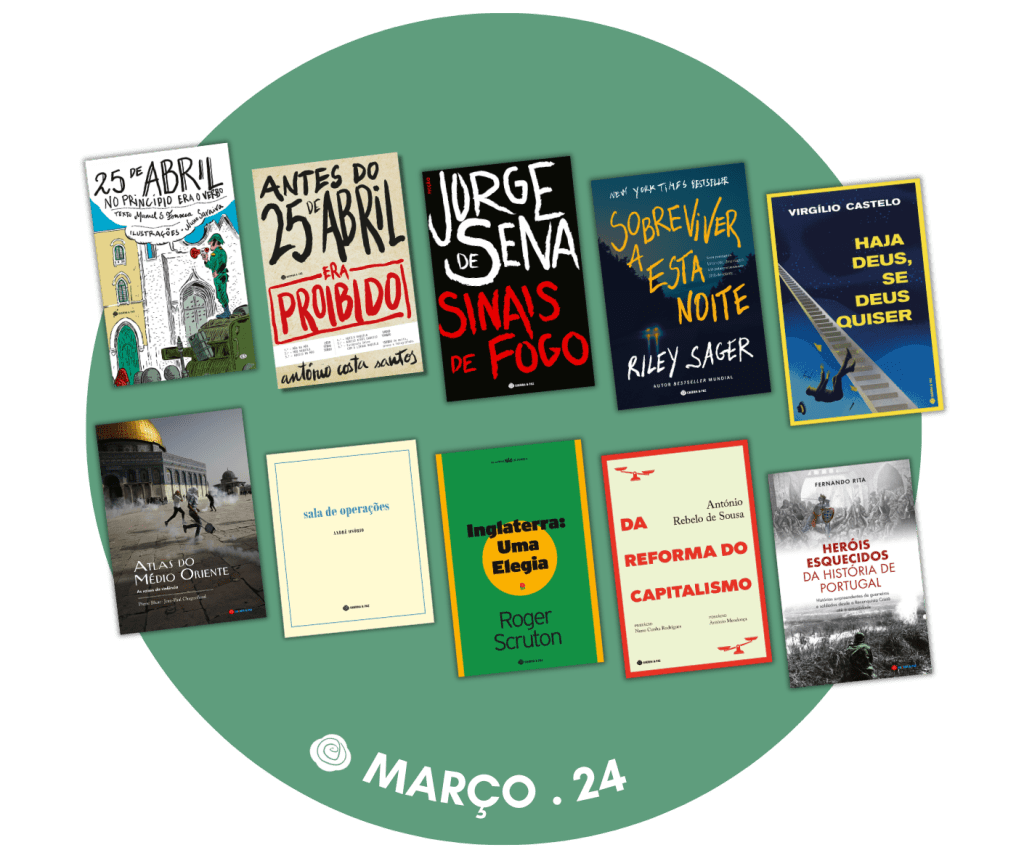Toda a história da literatura cabe numa garrafa de vinho. Ou de whisky. Exagero, porventura. Mas senão toda, pelo menos meia história da literatura cabe numa garrafa de 7,5 ml. Pensem na homérica garrafa de Hemingway, nas garrafas do português Cardoso Pires, no flagrante delitro de Fernandinho Pessoa. Lembro: era etílica, de puríssimo álcool, a cama infame em que se deitaram os poetas Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, no estremunhado século XIX.
E vejam, um americano, o escritor Charles Bukowski, assombrou a França vinícola: num programa de televisão mete à boca uma garrafa de vinho, Chateaux Margaux, sei lá, e ó camarada ó vira ó vira, sem tirar mais da boca, ó camarada, ó vira ó vira, deglute todo o conteúdo, num acto de poesia abjeccionista. Nunca o programa “Apostrophes” assistira a tamanha hipérbole.
Faulkner, o romancista de “Palmeiras Bravas”, era apreciador de um rigoroso dry martini – como eu, quando tinha férias, antes de ser editor de livros –, só o geladíssimo gin, límpido oceano oleado por uma impura azeitona e pelo não mais do que aroma de uma gota de martini. Dizia Faulkner: «Quando bebo um dry martini sinto-me gigante, sapientíssimo, elevado. Tomo o segundo e sinto-me superlativo. Depois disso, não há quem me segure.» O professor Cavaco que me perdoe, mas tem no dry martini o seu maior concorrente: o dry martini abre auto-estradas sem precisar de PRRs ou subsídios europeus. Como disse o superlativo Faulkner e eu mesmo, na minha modéstia, experimentei, bebe-se e o veludo do gin cria no interior do ser humano uma larga e esplêndida via de comunicação, um vácuo que precisa de metafísica e transcendência para ser preenchido, caso de Faulkner, ou para espíritos mais prosaicos, como é o meu caso, de picanha, churrasco, dantescas doses de queijo da serra.
Dorothy Parker não me desmente: “Adoro beber um ou dois dry-martinis. Com três, atiro-me para baixo da mesa. Com quatro para o colo do meu parceiro.” Não admira, por isso, que se diga que muitos escritores americanos que se conheceram e incendiadamente discutiram noite fora, se se vissem à luz do dia não se reconheceriam, já que nunca tiveram a infelicidade de se verem sóbrios.
O álcool mata e é duvidoso que os 15 graus de um bom tinto ou os fulminantes 42,4 de um Laphroaig de 1960, vintage reserve, venham acompanhados por camonianas “Ninfas amorosas, de amor feridas”, essas que olhos marinheiros logo cobiçam. Mas também é verdade, o que o actor e cronista Robert Benchley disse a um amigo que lhe censurava o dilúvio que o via emborcar, avisando-o de que o álcool era “um veneno lento”: “Pois sim – respondeu Benchley – e quem é que aqui tem pressa?”
Quem tinha pressa era Marguerite Duras. Levantava-se e esqueçam lá o cafezinho matinal, Duras ao primeiro contacto com a luz solar precisava de vinho ou whisky. Tenho de contar isto ao Pedro Nabinho, meu sócio na Guerra e Paz e com culpas no cartório: ele, nos tempos do Festival de Cinema da Figueira da Foz, batia-lhe à porta, em Paris, para lhe levar vinhos portugueses. Volto às ninfas. Raymond Chandler, e bastava a leitura de “The Long Goodbye”, o mais belo dos mais belos dos seus livros, para que tirássemos a camisa e a rojássemos pelo chão para que ele nela limpasse os sapatos, confessou: “O álcool é como o amor. O primeiro beijo é mágico. O segundo é íntimo, o terceiro rotina. Depois disso, já é só arrancar à amada a roupa toda.” Ou, como um poeta francês, quase ignorado, escreveu: “Quando o meu copo está cheio, esvazio-o/ Quando o meu copo está vazio, encho-o.” Copo erguido, à vossa!
Publicado no Jornal de Negócios