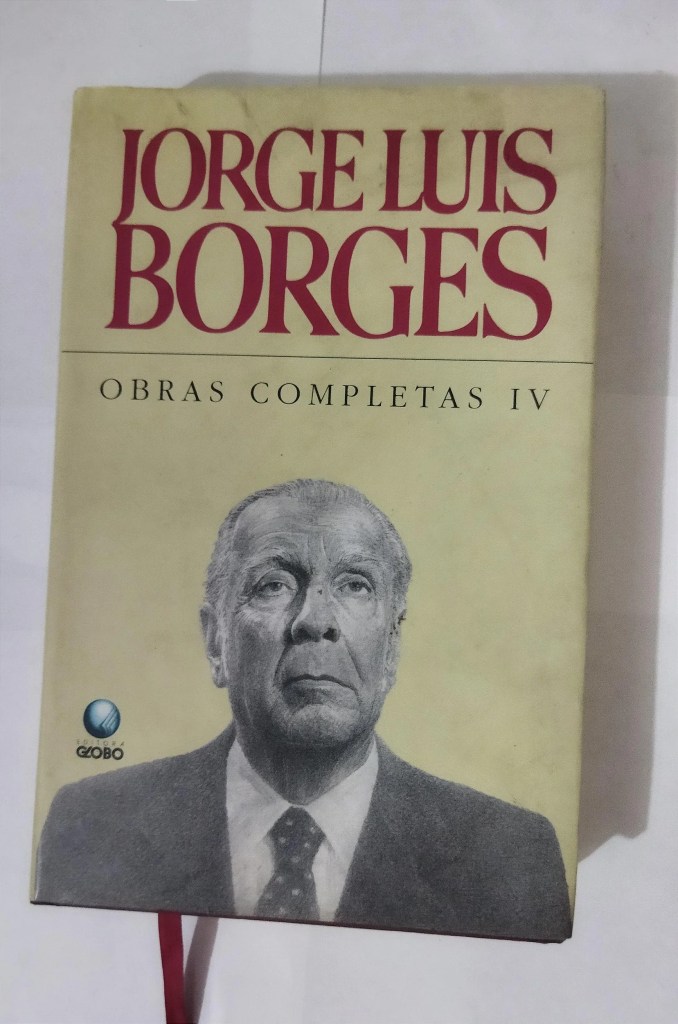
«As ruas de Buenos Aires / são já as minha entranhas.» Foram estes os primeiros versos do primeiro poema do primeiro livro que Jorge Luís Borges escreveu. E logo, dois versos à frente, ele diz que essas são as ruas do seu bairro, ruas «enternecidas de penumbra e de ocaso», promessa para o solitário que ele é – prenúncio da solidão do futuro habitante da escuridão em que se converteria. Promessa, digo eu, de uma pátria de que aqueles versos quereriam erguer-se como bandeiras.
Pode um poeta, com obra desmesurada como é a de Borges, adivinhar-se todo no seu primeiro poema? Amanhã pensarei talvez outra coisa, hoje penso que sim. Essas pequenas ruas «enternecidas de penumbra e ocaso», voltaremos a encontrá-las nos contos fantásticos de aventura, noutros poemas de maturidade de Borges. Neste primeiro poema – «As Ruas» – deste primeiro livro – «Fervor de Buenos Aires» –, está o feliz casamento entre o concreto e a metafísica, que voltará insistente e obsessivo no deslumbramento barroco das «Ficcões» ou na fantasmagoria do «Aleph». Nas ruas apáticas de um bairro dos arrabaldes pressente-se já a refutação do tempo, tema tão caro nos contos e inquisições: estas ruas solitárias e desoladas são únicas perante Deus e a eternidade. No primeiro poema do primeiro livro, Buenos Aires e Borges fundem-se. Inúmeras e solitárias palavras que a seguir tenha escrito não fizeram mais do que reescrever aqueles primeiros versos.
Também Jean-Luc Godard se revelou, inteiro, controverso e perplexo, no seu primeiro filme, «O Acossado». Os actores Jean-Paul Belmond e Jean Seberg, tão inocentes e já tão desesperados, desaguam na traição canalha («dégueulasse», diz Belmondo), incarnando a impossibilidade do encontro, da fidelidade e da felicidade. E não quero sequer falar da estreia no cinema de Orson Welles, desse megalómano «Citizen Kane» que é, sozinho, uma nova história do cinema.
E o que me arrisco a dizer é que talvez toda a nossa vida esteja contida num trivial episódio que a anuncia. Toda a individualidade de Churchill, inóspita e inegociável, se definiu no colégio, St. George, onde estudou. Mau aluno, salvo as boas notas em História e nas redacções, era vítima de duras punições dos colegas e de castigos físico dos professores. «Mãe, espero que me venhas ver. Que infeliz me sinto. Tento ser bom, mas são cruéis comigo…», escreveu numa carta. Tinha 9 anos e a escrita e a oratória eram já a sua linha de fuga.
Com 9 anos também, chegou Napoleão à escola militar de Brienne-le-Chateau. Vinha da Córsega, sotaque carregado, e os camaradas chamavam-lhe «o pequeno selvagem». O puto Napoleão, que tinha já o cartaginês Aníbal e o macedónio Alexandre como conquistadores-modelo, numa das brincadeiras de guerra que faziam no Inverno com fortes de neve, propôs um plano perfeito para conquistar essa fortaleza gelada e branca. Um coro de risos e desprezo – «quem pensas que és, corso?» – cortou-lhe as ilusões. O poder solitário teria de ser a sua salvação.
Termino comigo mesmo e com uma «petite histoire» que já contei. Aprendi a ler depressa. Num jornal, deixando embasbacada a mãe Alice, li: «O burromestre de Berlim». Ela sorriu, aplaudiu e logo corrigiu: «O burgomestre e não burromestre.» É certo que li o que li de um jornal, numa parede das obras, talvez uma mancha de cimento ou tinta a fazer do «g» de burgo um «r» de burro. Mas ficou ali traçado o futuro: aprender fácil e enganar-me com ligeireza. Mas enganar-me-ei por excesso de descontracção ou por fatal escolha estética?
