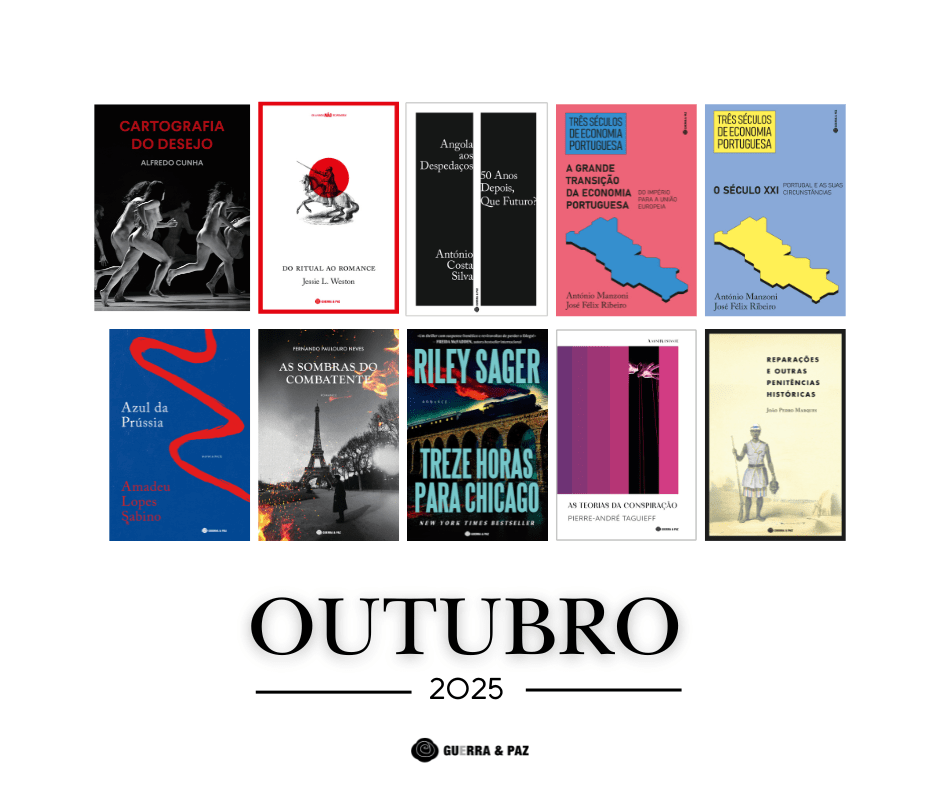Ali ia eu atarefado com a minha morte, as rodas da maca entoando uma música mórbida e a riscar o asfalto das áleas do hospital Curry Cabral. Era de noite e levavam-me, estrelas e lua a decorar o céu de Dezembro de 2020. Arrependo-me de não ter pensado que era à última vez que as via, às estrelas e à lua. O que me rasgava a cabeça era um cometa de ironia: nunca ter visto no cinema um tipo ser levado de maca num hospital pelo meio das árvores, entre terra e céu, os esgazeados olhos postos no cosmos.
Estava agarrado a essa originalidade, a achar que o travelling que embala o Al Pacino, no «Carlito’s Way», do De Palma, era um menino ao pé do meu deslumbrante plano-sequência, que tomara o Scorsese, quando entrei no bloco dos cuidados intensivos.
«Estou a descer», pensei. Desce-se para a morte e ao passar da maca para a cama, mil tubos, o pólo norte enfiado no nariz – o gelo que é respirar-se junto à barriga da eternidade – convenci-me que estava nas caves hospitalares, o que a minha desaustinada mente via como antecâmara da definitiva e perene escuridão.
Sabia que ia morrer. Nesses dias, no mundo, e para que conste, nós humanos morríamos como tordos. Gostava de ter tido, então, a desprendida serenidade de um D. H. Lawrence, que, olhos nos olhos da morte, disse: «Penso que é hora de me darem alguma morfina!». Na minha rasteira trivialidade, de mim para mim, disse: «Que chatice!» A intranscendência de um «que chatice» precedeu a minha ingloriosa rendição. Desisti e deixei-me ir à morte. Fez-se escuro e eis o que quero dizer: a morte vem de dentro de nós. Estava uma sala asséptica, as ronronantes máquinas com apneias de pis e pis, pi e pi e pi, uma limpeza pristina de antes do big-bang, e dentro de mim só escuridão e monstros.
De onde vinham os gigantescos fantasmas com capas de Batman, de onde vinham os Polifemos voadores que pareciam ceifar-me a cabeça e furar-me os olhos, de onde vinha essa mistura de extraterrestres com titãs, essas naves voadoras incansáveis que, de repente, eu comecei a abater – que irritação com Deus, que irritação com o portentoso Além me fez empertigar e sacudir esse obscuro Hércules sem rosto que já me agarrava pelas nádegas como quem leva um presunto?
Não sei em que ponto foi dos cinco dias e cinco noites em que a parafernália galáctica dos pesadelos me furava o peito e o ventre, me sugava as entranhas, mas sei que no meio desses mil rostos sem rosto da morte – e nenhum era a Senhora de Branco, que alguns disseram tê-los visitado – um humilde acorde musical soou.
Uma canção modesta veio de visita à minha escuridão. Não sabia cantá-la, mas como uma agulha espetou-se-me esta expressão, «o inteligente». Estavam os Darth Vaders num hipersónico coro assassino à minha volta, quando na minha cabeça se formaram os versos completos «e diz o inteligente / que acabaram as canções».
Eis a rutilante má-criação com que voltei à vida: «Acabaram, mas é o caralho.» Com a «Tourada» do Fernando Tordo, versos do Ary dos Santos, eu soube que as canções não tinham acabado. E enquanto cantava, dentro de mim, que as canções não tinham acabado, os monstros, Titãs, Polifemos, Darth Vaders, enfiavam o rabo entre as pernas, Deus e o portentoso Além batiam em retirada.
Voltei, radiante e tão fraquinho. Só então descobri que o bloco dos cuidados intensivos era num andar superior – já lá voltei a vê-lo – o que mostra que afinal só sei que nada sei sobre a morte: a morte talvez não seja um caminho a descer; a morte talvez seja sempre a subir, ascensão de que somos os persistentes alpinistas.
Publicado no Weekend, do Jornal de Negócios