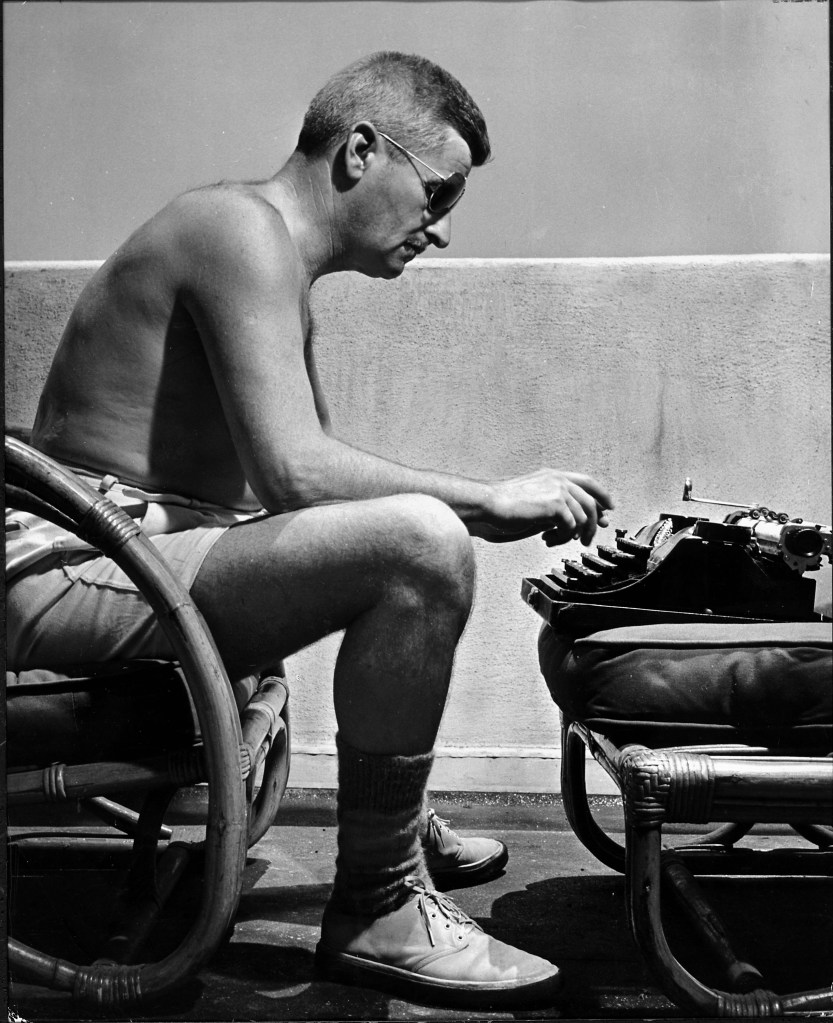O primeiro tiro à Kennedy foi o rei português Dom Carlos quem o experimentou. Disparou-o, antecipando-se umas boas décadas a Lee Oswald, a Winchester modelo 1907, de Manuel Buiça. Era, o Buiça, um atirador exímio; joelho no chão, o tiro saiu-lhe certeiro ao pescoço real, dando ao Senhor Dom Carlos, dizem, morte imediata. Os outros dois tiros que vararam o rei foram sumptuários.
Há nessa cena um lirismo e um heroísmo muito portugueses. Vejam bem: a rainha Dona Amélia tenta afastar os matadores assestando-lhes nas ventas com um singelo ramo de flores; quem a ouviu garante que ela, enquanto esbracejava, ia gritando, «Infames, infames». Ao lado da rainha-mãe, o príncipe herdeiro respondeu de pistola em punho, sendo o seu improficiente heroísmo logo abatido por um balázio da Winchester, que lhe atravessou a face e saiu pela nuca, espelho do tiro que, mais de meio-século depois, iria entrar pela cervical de Kennedy e sair-lhe pela laringe.
É melhor perecer com as vestes carmim da tragédia ou sobreviver pelo ridículo? Falemos do rei inglês Eduardo VII, que um parque de Lisboa celebra. Ainda ele era só Príncipe de Gales, sentou-se no comboio que o ia levar de Bruxelas à Dinamarca, em 1900, quando um anarquista, Jean-Baptiste Sipido, na verdade um puto de 15 anos incendiado pela matanças da Guerra dos Bóeres, saltou para o estribo e disparou dois fogachos que passaram a dedos da cabeça de Eduardo. O príncipe vai em vôo picado, asas abertas com um pato, e sai-lhe este desabafo: «Foda-se que já levei com uma bala!»
E não. Não levara com bala alguma, razão pela qual o tribunal considerou o puto Jean-Baptiste «incapaz de dolo», tanto era o seu indiscernimento, se assim lhe posso chamar. Teve, porém, o discernimento e o bom gosto de fugir para Paris, antes que o pusessem num reformatório. A gloriosa França acolheu-o com o estatuto de refugiado político.
Podia falar do atentado a tiro contra Lenine. Mas não, falo da sua segunda morte. Havia um frequentador da Cinemateca, que era a pálida cara chapada do primeiro ditador soviético. Tão doce como pálido, viveria com uma sopa por dia e a pobreza de um Bartleby, um obsessivo amor pelo cinema. Chamávamos-lhe Lenine, e um dia, como alguém dirá de nós outro dia, olha, morreu. A Antónia, minha augusta mulher, entra a chorar no gabinete do João Bénard: «Morreu o Lenine.» O João, sabedor das inóspitas inclinações políticas da Antónia, espanta-se: «Ó Antónia, o Lenine já morreu há um século.» E logo a Antónia, em choro convulso: «Não é esse. Morreu o nosso Lenine.» Não há tiros no silêncio do cinema.
Publicado há umas semanas valentes no Jornal de Negócios, no Weekend