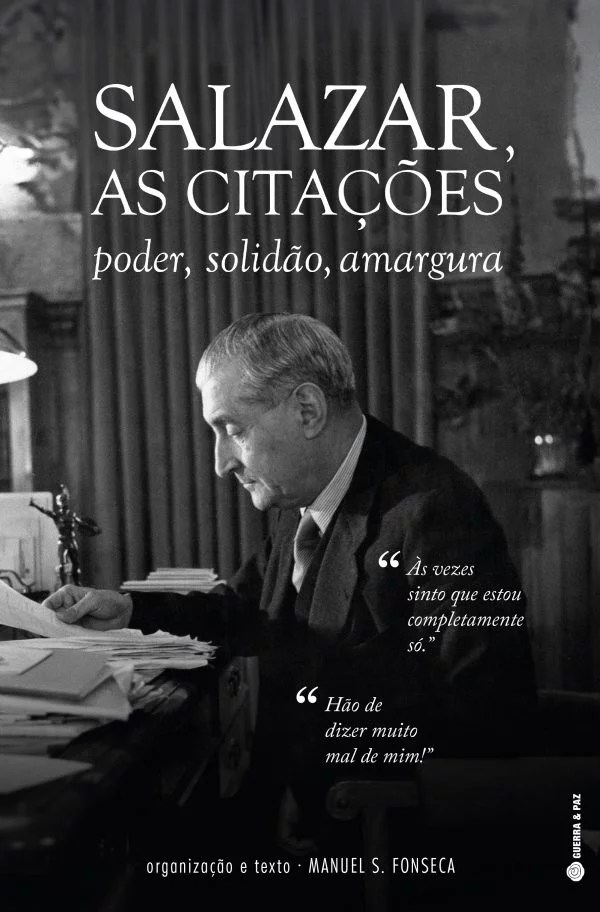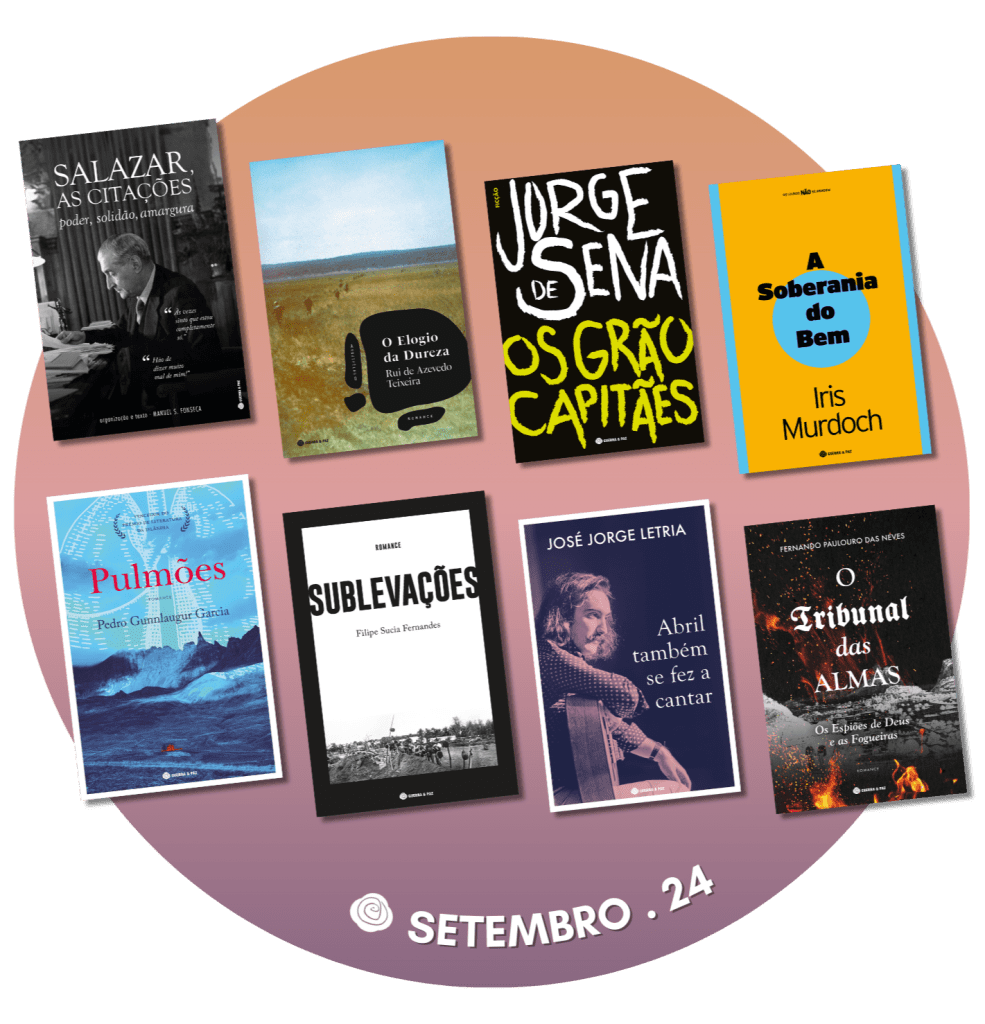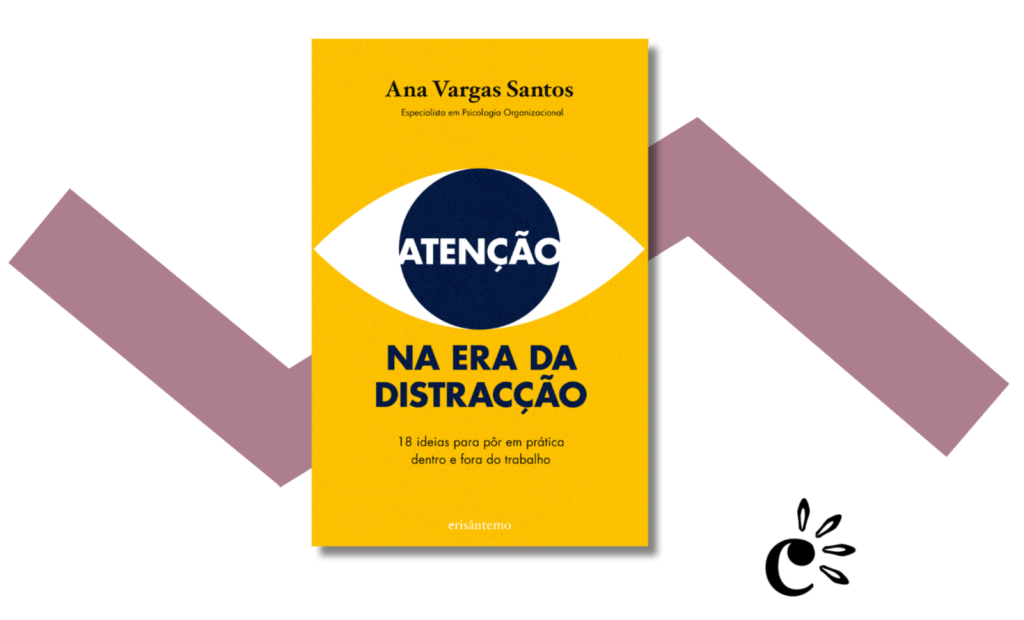Qual flic-flac, eu chamava-lhe era um duplo twist carpado se não fosse altura de deixarmos a celestial Simone Biles em paz. Ora do que eu quero falar é de como, a pretexto de se fazer a paz, se abrem as terríveis goelas da guerra.
Foi um flic-flac anunciado no dia 23 de Agosto de 1939. Hitler e Estaline assinaram um pacto de não agressão. E fizeram-no como se fossem dois anjos da paz. Diabos seriam as democracias europeias, sobretudo essas Inglaterra e França cuja voragem capitalista estaria a empurrar a Europa para a guerra. Putin repete hoje, à sua maneira farsante, o mesmo teatro.
E agora vejam, mesmo um surrealista como Louis Aragon, renegando a pérola ficcional a que deu o sonoro título de “A Cona de Irene”, tendo passado a dormir nos lençóis vermelhos do Partido Comunista Francês, veio pôr a prosa ao serviço da inefável pomba da paz que saltitava do ombrinho de Hitler para a cabecita de Estaline. Aragon fez o flic dizendo que o pacto era “um triunfo da vontade de paz soviética” e logo o flac, em cima de Hitler, jurando que “quando um agressor profissional assina um pacto de não-agressão é para ele que isso é embaraçoso”.
Ora o Pacto nazi-soviético não era só o Pacto. A par do angélico anúncio ao mundo, Hitler e Estaline assinaram um documento secreto. Como Napoleão disse um dia, definindo o seu ministro Talleyrand, o Pacto era “muita merda num penico de seda”. O que Hitler e Estaline esconderam no penico de seda foi o acordo para invadir e repartir a Polónia: um acordo de crime e sangue. E acordaram lançar as garras, os nazis para ocidente, os comunistas para meia Polónia, a Finlândia e os estados bálticos.
Durante dois anos, Hitler teve as costas quentes. Teria feito a guerra, sem o Pacto? Talvez sim, nunca com o mesmo conforto. O Pacto foi o suplemento energético para o desejo de guerra e conquista dos nazis. E a ideia de que Estaline o assinou para reforçar as suas forças armadas, esse consolo pragmático com que a posteriori tanta intelectualidade lambeu a escandalosa ferida, não colhe. O expansionismo de Estaline era real: pô-lo em marcha ainda a tinta das assinaturas no Pacto estava fresca; prosseguiu-o, nas barbas dos aliados americanos e ingleses, capturando todo o Leste europeu, só lhe fugindo pelos dedos a Finlândia e a total conquista de Berlim, que a URSS cercaria depois com um muro a que Trump, fosse ele um tipo honesto, teria de pagar direitos de autor.
O namoro de Estaline a Hitler para a criação do penico de seda já levava, antes de 1939, três anos. Na Polónia ocupada, as tropas nazis e soviéticas fizeram um desfile, lado a lado, em Brest. E venham, por favor, a Moscovo e a São Petersburgo. Partilhada a Polónia, vejam a pompa gourmet do banquete de 24 pratos com que a delegação nazi é recebida para firmar o Tratado de Fronteira e Amizade Nazi-Soviético. A URSS fará até trabalho sujo ao serviço dos nazis: recebe listas de cidadãos alemães, austríacos e checos fugidos a Hitler, prende-os e devolve-os à morte.
Desata também aos beijos culturais na boca nazi. Os jornais deixam de criticar os nazis, literatura antifascista é retirada das livrarias, dois filmes soviéticos que mostravam perseguições nazis aos judeus são interditos, bem como o “Alexandre Nevsky”, filme de Eisenstein, cujo herói russo derrotava os cavaleiros teutónicos. Eisenstein é compensado: encena, no Bolshoi, “As Valquírias”, de Richard Wagner, o compositor favorito de Hitler, que o Pravda saúda como um génio.
Sim, milhões de heróicos russos morreriam depois para apagar Hitler do mapa. Teria sido necessário esse dantesco sacrifício humano, se Estaline não tivesse, há 85 anos, respaldado Hitler?
Publicado no Weekend do Jornal de Negócios. Estou lá, todas as sextas-feiras