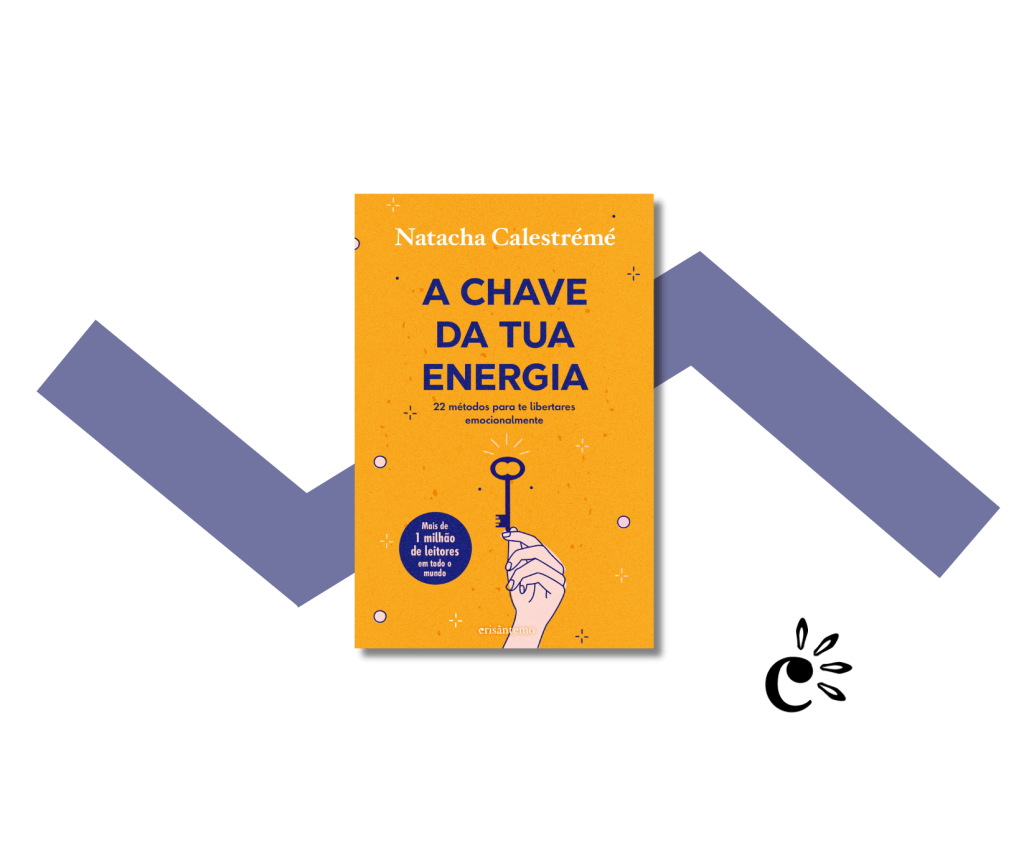Que maciça silhueta de cavaleiro é que provoca um tão luminoso sobressalto na bela mulher madura, de pele ainda tintada de desejo, que surge à porta da casa? Que tensão, que camuflada distância, congela os dois irmãos que, separados há anos, se apertam as mãos quase com vergonha? Sim, sei bem que sabem, que estou a falar da abertura de “A Desaparecida”, de John Ford.
Viram o beijo de John Wayne à testa da cunhada? Que envio lírico se solta desse beijo e embaraça aquela esposa e mãe, pondo nas nossas faces de espectadores o carmim do rubor? Que antigo romance adivinhamos no pudor desse beijo?
Que Ulisses sem Penélope é este John Wayne, saco de desilusão montado a cavalo, de andar desengraçado, de corpo tão estranho à harmonia familiar? Que deus ou deusa da desgraça o soprou do fundo horizonte, cavaleiro vindo dos mortos, para vir assombrar a plácida rotina dos vivos?
Quem, sem dizer uma palavra, nos conta estas histórias é a prodigiosa e poética realização de John Ford, quem as contas são os olhares, os gestos quase imperceptíveis, as inflexões de voz da personagem de Wayne, Ethan de seu nome, das hesitações e tão bonita discrição do irmão e da cunhada, quem as conta é a ousada intrusão da música de Max Steiner.
É esse o milagre do cinema, do pantagruélico cinema que se alimenta do Homero de há 30 séculos. Tão moderno como Homero, John Ford deixa, em pinceladas rembrandtianas, a sugestão de um romance familiar tabu, deixa cair no rosto de John Wayne e da cunhada a gota de amarga saudade do raio de um desejo talvez nunca consumado. John Ford deixa-nos, enfim, adivinhar o escuro ressentimento de quem, como Ethan, nunca provou a lenta pasmaceira da felicidade doméstica.
Não é para essa felicidade que John Wayne está guardado. Ele traz nos alforges os mesmos ventos que um dos deuses deu a Ulisses. E os ventos vão soltar-se e devastar esta família em harmonia, vão devorar esta mulher que vemos entrar em casa de costas, recuando, para não deixar de olhar para John Wayne, numa coreografia tão bailarina, que até dói no nosso manso coração de espectadores.
Os índios, os terríveis comanches, hão de vir a seguir, numa via dolorosa de destruição e morte. Só sobrevive a filha pequenina, Debbie, que os índios raptam.
Ethan, a personagem de John Wayne, o Ulisses mais carregado de ódio que a história da ficção já viu, John Wayne, essa funda mina de negrume, sem ouro nem lítio, irá, de ilha em ilha, de deserto em deserto, em busca dela, da sobrinha Debbie, para repetir o gesto que fez quando a conheceu: Ethan agarrou na pequena Debbie e levantou-a no ar como quem segura nas mãos, contra o céu, a essência da inocência.
Chamei a esse prodigioso movimento, gesto – qual gesto, é mas é um verso, o primeiro verso, verso suspenso à espera da rima que o feche e feche em redenção um longo poema de raiva, som e fúria. E é este, depois de obtida a redenção, o fecho de “A Desaparecida”.
A porta que se abriu para que este filme começasse e pela abertura dela percebêssemos ao longe a silhueta fantasma de cavalo e cavaleiro, esse Ulisses fordiano que vem em busca da sua Ítaca, fecha-se agora.
No doce útero que é a casa entram e ficam todos, a nova família, o índio Moses, Debbie que um dia talvez venha a ser outra Penélope. Cá fora, de fora, fica apenas, agarrada ao seu amado cotovelo, olhos a esvaziarem-se no infinito, a solidão irremediável, peregrina e estrangeira de John Wayne, espectro de dois metros e 120 quilos, que dá corpo ao mais pungente dos Ulisses, épico como em Homero, trágico como em Dante.
Publicado em Jornal de Negócios