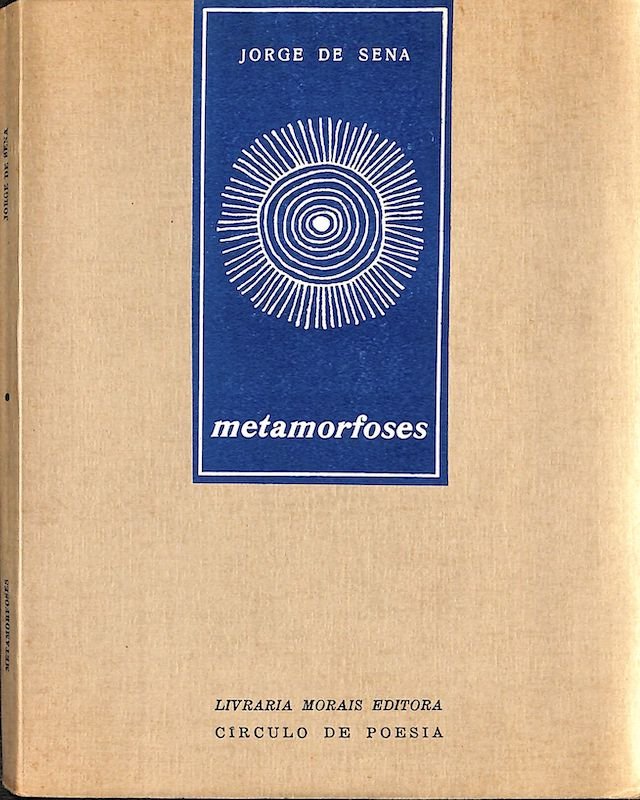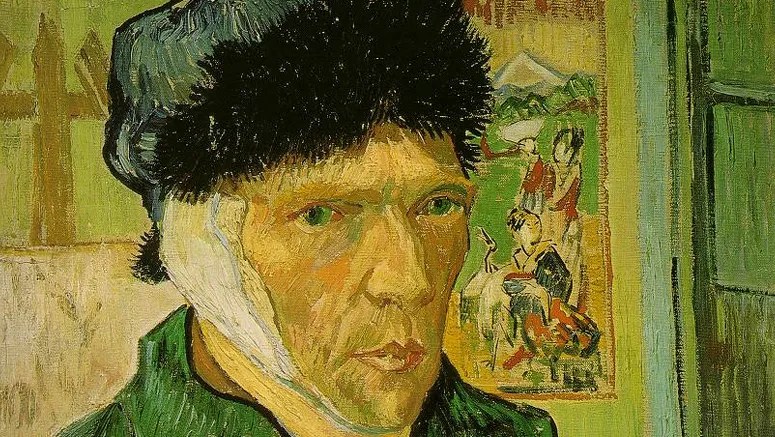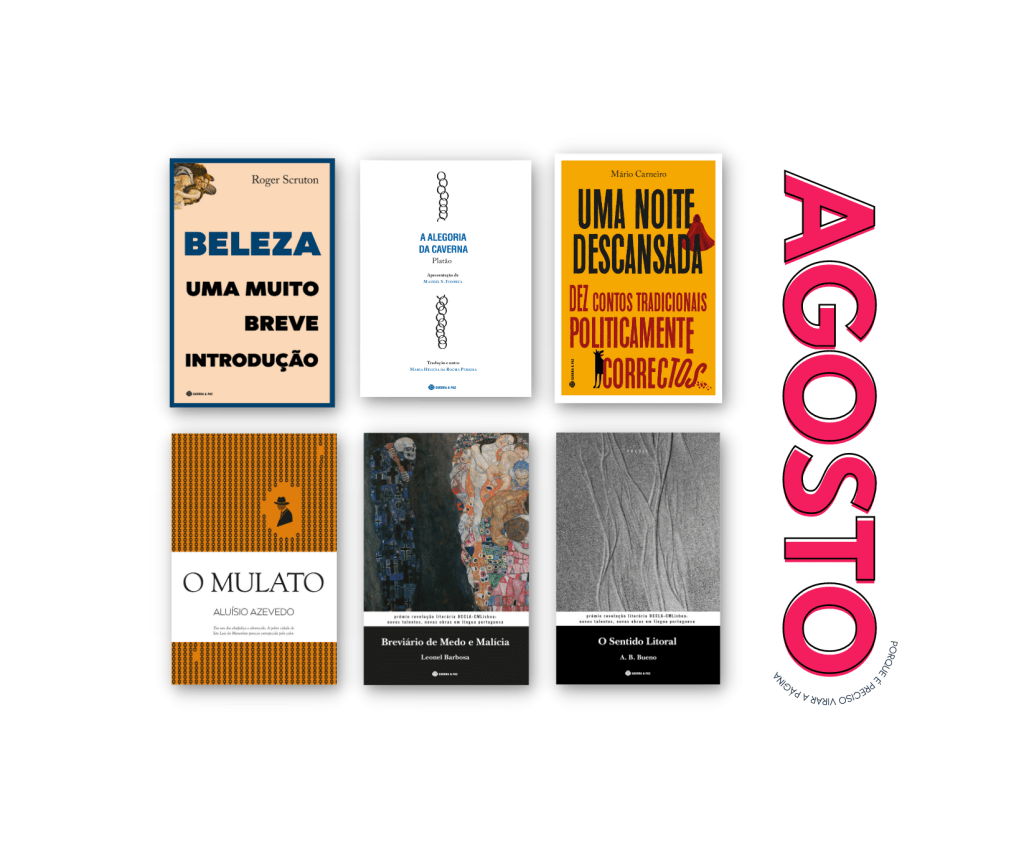os meus livros de Setembro
nove livros, um solo de sax e duas novas chancelas
Queria é saber falar de livros com a arrasadora tristeza e vivacidade com que o francês Michel Portal toca clarinete (ou sax). Ponho-me a pensar: como é que Portal agarraria neste A Religião Woke, que outro francês, o professor Jean-François Braunstein, escreveu, tão inquieto com o futuro e com a irracionalidade à solta que ameaça a liberdade? Talvez Portal tocasse “Armenia”, viagem de comovida desesperança a um remoto e perdido passado. A Religião Woke é um livro de resgate da razão. Publica-o a Guerra e Paz editores, sabendo que a Fundação Manuel António da Mota e a Mota Gestão e Participações vão oferecê-lo a cada uma das 244 bibliotecas da rede pública. Merecem bem, estes mecenas, um solo lírico do maravilhoso Portal.
Largo o sax e desato a correr: um pequeno editor (ui, e se o sou, e em todos os sentidos) precisa de ter uns pés com a malícia e a astúcia dos pés de Ulisses. Os meus pezinhos foram lá longe, tempo e espaço, à América de Ayn Rand, falecida há 40 anos, desencantar o seu mais famoso (incensado e odiado) livro, A Virtude do Egoísmo, para meu ingénuo espanto NUNCA publicado em Portugal. Antecipo o indignado coro das bruxas contra a ideia de que «cada homem é um fim em si mesmo e não para os outros»: o que é indigno, porém, é termos medo e silenciarmos, na nossa estreiteza, a voz singular de Ayn Rand, em vez de a publicarmos e discutirmos. Por fim, o termo Objectivismo vai fazer sentido: o livro que o criou fica, a partir de Setembro, entre nós.
E não é só a lamber gelados que nos deliciamos com o contraste dos sabores. A Guerra e Paz ama a contradição, a que, para sossego de algumas almas, também podemos chamar pluralismo. Em Setembro vou editar, do historiador Jean Michel Mabeko-Tali, Rótulos Atribuídos, Rótulos Assumidos, turbulenta incursão pela história política de Angola, com o inescapável e sangrento 27 de Maio de 1977 no epicentro, tal como publico, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores, a entrevista de José Jorge Letria que deu origem a Urbano Tavares Rodrigues, O Livro Aberto de uma Vida Ímpar, livro que comemora o centenário do nascimento de Urbano. E convido-vos a virem vestir a despida Brigitte Bardot (mas também pode ser Jacques Brel): quem lhes tirou as medidas foi Tony Miranda, o único português que triunfou na Alta-Costura de Paris. Em Metade de Mim, narra ele mesmo a sua singularíssima biografia: e se um chefe de estado lhe encomendasse 400 fatos num só mês…
Fernando Pessoa viajava sem nunca sair do cais: eu ando à aventura, a descobrir autores portugueses, que queiram ancorar a bom porto. Vejam, vejam. Arnaldo da Fonte já não é um jovem: privou com Miguel Torga, e agora, com a serenidade de um Séneca, escreveu Diário de um Desassossegado, obra poliédrica de uma vida, obra de inequívoca e nada esquiva dívida a Pessoa. Outro autor, que a Guerra e Paz acrescenta à sua mais nobre colecção de poesia, é Jorge Muchagato. A sua Biografia da Noite oferece-nos uma poética de forte fôlego discursivo, uma imagética potente, e não vou dizer a palavra «disruptiva»: o livro é bem e belamente melhor do que essa linguagem de jogar à defesa. Provo-o citando: «Os cabelos sujos e negros da miséria / que absorvem a última luz salvífica da tarde, a redenção / intacta na escada descendente da verdade, quando / o vinho fecha as lágrimas, sutura a carne, o silêncio / e as suas larvas, a equação final, a manhã.»
Em Setembro reencontro-me com Eva Dias Costa. Publiquei-a há anos, mas agora deixou-me de boca aberta. Escreveu um livro sério e vivo, um livro rigoroso e tongue in cheek, apaixonada razão que me fez logo dizer que sim. Chama-se, e que título bom e saboroso, Bestiário Ético, Um Ensaio Sobre a Condição de Todos os Bichos, defesa veemente da consideração moral devida a esses outros bichos, livro em que a Guerra e Paz tem bons e credíveis parceiros, do patrocínio da sociedade de advogados Cerejeira Namora, Marinho Falcão ao apoio da Pentágono Saúde e da Litoral Leituras.
E volto à música: ajude-me, se faz favor, Michel Portal. Toca o «Bailador»? Com aquele arranque de bateria e o contrabaixo logo a seguir… só para dar entrada a Eduardo Lourenço. Jorge Maximino e Nuno Júdice organizaram-lhe esta homenagem: A Mais Frágil das Moradas. Escolheram alguns poetas clássicos e pediram a 17 poetas actuais (eles mesmos, Hélia Correia, Maria do Rosário Pedreira, Fernando Guimarães, Fernando Pinto do Amaral, entre outros) que firmassem um tributo para o centenário da heterodoxa cabeça que foi Eduardo Lourenço. É uma edição com o patrocínio da Gulbenkian e o apoio das Câmaras de Almeida e da Guarda.
São os meus livros de Setembro: que possam ser vivos e perenes como Urbano e Lourenço nos seus cem anos.

Duas novas chancelas
É tudo? Mas qual tudo, qual nada, quando se tem sede de vida, como a que tem a Rita Fonseca, que sacou do chapéu, que nunca usa, duas novas chancelas para agitar a edição portuguesa! Força, Rita Fonseca, boa sorte e vai com tudo ao pote. Menos do que isso é para meninos…
Uma das chancelas é a Euforia, especializada em romance contemporâneo ousado, trendy e provocador, provocador e sexy, caso desta Halle Butler e do seu O Novo Eu. E há de vir aí Boy Parts, Partes Masculinas. Promete. Não, não promete, ameaça e ataca.
A outra chancela é a Crisântemo, vocacionada para o livro prático e de aconselhamento, que começa com um psicólogo português, Miguel Gonçalves, e com o seu Constrói o Teu Caminho, mas tem já também um clássico, Arnold Bennett, dramaturgo e romancista de fulgurante êxito no século XX, que nos explica Como Viver as 24 Horas do Dia. E vai ter, oh la la, um Freud. Uma chancela de vida prática sem recalcamentos.
Mas a Rita há de explicar tudo nas newsletters dela. Há um novo eu na edição portuguesa.