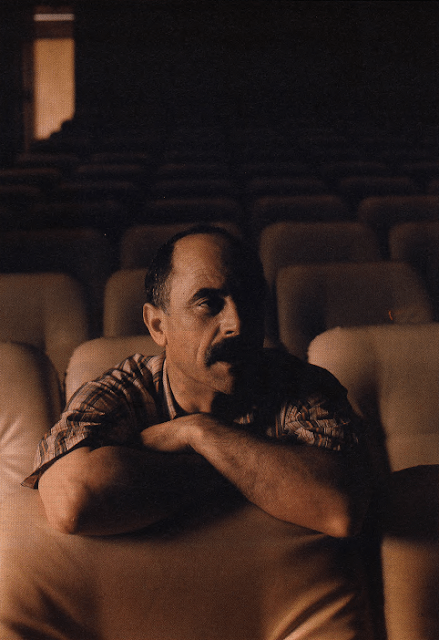Eis uma das minhas fixações: a morte. E, amigos, se é que me autorizam a expansão afectiva, tenho de ser mais exacto: a minha fixação fatal é a morte com classe.
Peço que olhem para os pés de Maria Antonieta. Esqueçam, por um instante, o seu olhar altivo, a fina boca com que dizem, e é falso, ter mandado os descamisados e vítimas da fome comer brioches. Os pés de Maria Antonieta, arquiduquesa da Áustria, rainha consorte odiada pelos grandes de França, caminham para o cadafalso. Mesmo Luis XVI, seu marido, que demorou seis penosos anos a consumar o casamento, ter-se-ia, agora, comovido com esses pés que rasam o chão.
Henri Sanson, o seu carrasco, cortou rudemente o cabelo à rainha e amarrou-lhe as mãos atrás das costas. Foi assim que veio na carreta dos condenados à morte. Manteve-se firme e estóica no meio da turbulência revolucionária. Tanto que o conde de Mirabeau, derradeiro conselheiro, olhando para a desoladora solidão dela e de Luis XVI, terá dito “o rei só tem um homem ao seu lado, a sua mulher”!
Maria Antonieta levanta-se agora para subir os degraus do cadafalso. Oscila e pisa o pé tosco de Sanson, o carrasco, ele mesmo filho do carrasco que guilhotinou o rei. E ouçam, e essa sim, é a boca da rainha de França, a falar: “Perdão, senhor. Não o pisei de propósito!” O sapato cai-lhe do pé e alguém na turba, um fetichista revolucionário, o apanha.
Uns singelos minutos depois, a lâmina voa lá do alto e separa a cabeça do corpo de Maria Antonieta, essa rainha que, espontânea, acabara de dizer, “Perdão, senhor, não o pisei de propósito”.
Maria Antonieta era rainha. Mas como morre um pirata? Venham comigo a Boston. Ainda o século XVIII ia a meio e não morrera nem sequer nascera Maria Antonieta, já William Fly queria ser marinheiro. Alistou-se, na Jamaica, no navio de que era capitão John Green, um comandante cruel. Fly entra depressa em choque com o capitão energúmeno. Com outro marinheiro, ataca o capitão e lança um motim. Querem deitar o capitão ao mar, mas ele agarra-se com uma das mãos a um mastro. Logo um dos amotinados, com um machado, lhe corta a mão pelo punho.
O motim triunfou e Fly é o novo capitão. Desfralda a bandeira dos piratas e converte o barco numa arma de assalto. Durante três meses ele e a tripulação são felizes: assaltam, roubam, como se pudesse voltar a Idade de Ouro da pirataria. Mas ao quinto navio, a tripulação que aprisionam é tão numerosa que acaba por tomar conta do barco de Fly: atiram-no, em Boston, para o calabouço.
A boca de um pirata não é igual à boca de uma rainha. Da boca do pirata William Fly ninguém ouvirá um “Perdão, Senhor!” Tentam tudo, que se arrependa, que reconheça e confesse os crimes. Dirá sempre aos inquisitoriais calvinistas: “Não sou culpado de nenhum crime. O capitão sim, que era selvagem e bárbaro para os marinheiros. Mas a um capitão ninguém o acusa, só aos marinheiros sofredores que se amotinam!”
E vejam-no. Sai da prisão com outros três condenados em pranto. Da sua boca nem um ai. Os pés, sim, parece que voam. Os degraus para o estrado onde montaram as forcas, sobe-os em passos leves e seguros como se fosse uma Leanora pela verdura. Agarra do chão a corda que o há de enforcar. Atira-a sobre a barra em que vai deslizar e olha para o nó fatal. Chama o carrasco, desata o nó e volta a fazê-lo como deve ser. Sorri aos que assistem, deixa cair o bouquet de flores que trazia, como Maria Antonieta o sapato, e acerta, ele mesmo, o nó ao seu pescoço. Morre, minutos depois. Onde se pode aprender a morrer assim?
Publicado no Jornal de Negócios